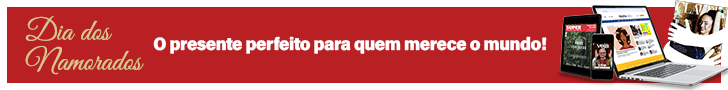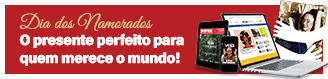Autor de mais de quinze livros – e um sucesso desde sua primeira obra, A Trilogia de Nova York (1987) – pode-se afirmar sem medo que o americano Paul Auster é um escritor maduro e profissional. Auster sempre manteve uma produção constante, lançando livros no intervalo de um a dois anos. No início de sua carreira, dedicou-se a livros mais experimentais, como o já citado A Trilogia de Nova York, em que constrói três romances policiais metafísicos, subvertendo noções caras ao gênero, Leviatã (1992), que mescla realidade e ficção à moda de Sophie Calle (uma das personagens do livro), e Timbuktu (1999), história narrada do ponto de vista de um cachorro.
O problema? Ao passo que Auster foi se tornando um escritor mais experiente, isto é, à medida que sua prosa foi amadurecendo, sua escrita foi ficando progressivamente menos ousada. Seus experimentos metaficcionais como em Noite do Oráculo (2004) pareciam seguir uma fórmula, algo que o crítico James Wood denunciou em um longo artigo para a The New Yorker. Wood detalha como seria a Equação Auster, sempre com um protagonista intelectual do sexo masculino amargando uma perda e um final a sugerir que tudo o que foi lido até ali pode não passar da ficção criada por um dos personagens da história. Pior, talvez, há o caso de livros como Desvarios no Brooklyn (2005), que revelaram um Auster capaz  de um realismo comportado com final hollywoodiano.
de um realismo comportado com final hollywoodiano.
Sunset Park (Companhia das Letras, 280 páginas, 45 reais), que chega às livrarias em formato impresso no início de maio, foi anunciado como uma grande canção de amor ao Brooklyn, bairro de Nova York em que vive o escritor. O romance gira em torno de um grupo de jovens de classe média com pretensões artísticas que ocupam ilegalmente um prédio, e mais especificamente ao redor de Miles Heller, filho de uma atriz e um editor famoso, que sofre com as lembranças traumáticas da morte de seu irmão.
Na maior parte do romance, tudo o que o narrador onisciente de Auster faz é contar a história passada de cada um dos personagens. No filme Garotos Incríveis, adaptação cinematográfica de Curtis Hanson para o livro de Michael Chabon, há uma cena marcante na qual os protagonistas — um professor de escrita criativa, um editor e um aspirante a escritor — divertem-se em um bar “narrando”. Eles olham para uma pessoa desconhecida no bar e inventam uma ficção sobre ela. Criam um trauma no passado, um desejo que a motiva a fazer tal coisa, suas relações familiares etc. No filme de Hanson, isso pode ser interpretado como uma sátira da “ficção realista séria” americana e dos truques de criação de personagens. Durante boa parte de Sunset Park, parece que Paul Auster está fazendo exatamente isso: observando pessoas e tentando espremer um personagem tridimensional de cada indivíduo que surge em cena. E, apesar de todos os esforços do autor, é difícil se importar com qualquer um dos personagens, em parte porque ficamos tempo demais presos aos seus passados, enquanto o enredo no presente avança a passos lentos.
Se, por um lado, a experiência de Auster faz com que a narrativa nunca desande ou perca a coerência, por outro, gera um tom de piloto automático em diversos trechos. O aguardado clímax no final acontece conforme se prevê desde metade do livro — ou até mesmo antes. E Sunset Park termina deixando vários fios desamarrados. Porém, nem esse final aberto se mostra tão interessante; Auster, infelizmente, se tornou um cronista da vida nova-iorquina preso demais ao quotidiano dos habitantes da cidade.
Os temas centrais do romance são o envelhecimento (das pessoas e dos objetos), a desintegração, a passagem do tempo, ideias que estariam ligadas ao período de crise pelo qual os Estados Unidos estariam passando em 2008. Todavia, na narrativa tranquila de Auster, esses temas não ganham potência, não saem de uma órbita baixa, e desaparecem sem deixar rastros. O romance, portanto, deixa a impressão de que faz tempo que o escritor perdeu o vigor e está longe de ser, na atualidade, uma das vozes mais criativas do país.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados