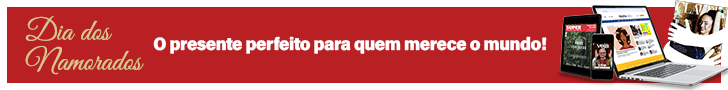Sabe que às vezes é mais divertido que Game of Thrones?
Não, não digo isso para causar choque e indignação. O fato é que Game of Thrones leva a melhor em episódios isolados ou em certas storylines, mas no saldo final Vikings diverte com mais regularidade. Agora que a terceira temporada está saindo em DVD, faça o teste.
Algumas coisas que eu adoro em Vikings:
- A mania do Travis Fimmel, que faz o rei Ragnar Lothbrok, de se encostar em batentes, paredes, mastros de navio, árvores etc. para ficar olhando os outros personagens com cara de cínico. Não tenho a menor ideia da razão pela qual ele vive inclinado, mas por razões também elas inexplicáveis acho divertidíssimo.

- O show que o Linus Roache dá nesta terceira temporada inteira como o rei Ecbert de Wessex, um sujeito mais liso que sabão que faz negócio com todo mundo e está sempre tentando achar uma forma casual de matar o filho chatonildo dele, o príncipe Aethelwulf (Moe Dunford).
- A Lagertha da Katheryn Winnick, claro. Se tivesse curso para virar shield maiden, eu faria.
- Athelstan, o monge dividido entre Cristo e Odin. No começo ele não me entusiasmava muito, mas da metade da segunda temporada para cá a interpretação de George Blagden me ganhou.
- As cenas de batalha sempre foram boas, mas as da terceira temporada foram mais do que isso – foram excelentes. A primeira tentativa de Ragnar & cia de tomar Paris, no episódio 8, é simplesmente um espetáculo. Na boa? Ficou ali com as melhores batalhas de Game of Thrones e ganhou de várias outras de GoT que custaram mais caro e impressionaram menos.
- A abertura, com If I Had a Heart, dos suecos Fever Ray, que fica na minha cabeça durante horas depois. Aliás, pior do que isso: eu tento cantar a música, o que fere duramente a sensibilidade auditiva do Guilherme Gouveia.
- A consistência do visual death metal e da paleta de cores, que mesmo quando vai para lugares mais cheios de vermelhos, como a corte do rei Ecbert, na Inglaterra, e a do imperador Carlos III dos francos, em Paris, mantém a base cinza-escuro das locações na Escandinávia (dublada pela Irlanda, como Game of Thrones e boa parte das produções de época). E ainda oferece a vantagem adicional de poupar o espectador daquela direção de arte na linha Marquês de Sapucaí em que o pessoal de GoT põe a coitada da Daenerys.
- O fato de que as liberdades que o criador Michael Hirst toma com a história doem bem menos do que as adulterações dele em Os Tudors: a historiografia em torno dos vikings é confusa e cheia de lacunas e a cronologia é uma bagunça mesmo. Para dar uma ideia, sabe-se que os filhos de Ragnar que aparecem na série (Björn Ironborn, Ivar the Boneless, Sigurd Snake-in-the Eye, Halfdan Ragnarsson e Ubba) são figuras reais – mas não se sabe se Ragnar de fato existiu, e se esses sujeitos eram ou não filhos do mesmo homem. Ou seja, liberou geral. Mas surpresa: a oferta que Rollo (Clive Standen), o irmão de Ragnar, recebe no último episódio é real – e umas tantas décadas depois viria a mudar a história da Inglaterra.

- O time de apoio do Michael Hirst é de primeira categoria e está fazendo aqui o seu melhor trabalho. O time de GoT leva a fama, mas este aqui entrega mais “valores de produção” por um orçamento bem menor. Parte da equipe veio de Tudors, outra parte veio de séries como Ripper Street, Penny Dreadful e Reign. Menção de honra para a direção de arte de Jon Beer, os figurinos de Joan Bergin, a música de Trevor Morris e também o desenho de produção, a cinematografia e a edição.
Por outro lado…
- …é verdade que os roteiristas não têm feito grandes favores ao personagem, mas não aguento mais o fundamentalismo religioso e os maneirismos do Floki de Gustaf Skarsgard (filho do Stellan, irmão do Alexander de True Blood e do Bill de Hemlock Grove). Por Thor e Odin, achem alguma outra cantilena para ele.




 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil
Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia
Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia