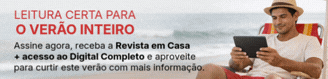Marvel, pode tremer nos joelhos: tudo o que a DC Comics havia errado até hoje em Homem de Aço, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida ela finalmente acerta em Mulher-Maravilha – e como acerta. Com a israelense Gal Gadot vestindo o uniforme azul e vermelho (sexy e bonito, mas não provocante demais) e a diretora Patty Jenkins no comando, Mulher-Maravilha é o filme que a personagem merece, e de que a DC tanto precisava. Se os próximos filmes seguirem o tom deste, estão no bom caminho. A ação é cheia de impacto e de personalidade, o humor e o drama vêm na medida certa e, pela primeira vez, um filme do DC-verso flui sem esforço e sem desafino. O mais positivo de todos os aspectos positivos: teria sido fácil ceder ao clima atual de feminismo triunfalista e vingativo – mas Mulher-Maravilha acredita com sinceridade (e com razão) que esse é o tipo de jogo que não leva a nada. O mundo em que Diana vai parar é de um machismo atroz? Ora, que os tolos fiquem com suas tolices: Diana Prince acha que Steve Trevor é ótimo (ei, é Chris Pine!), e Steve Trevor acha que Diana Prince é o máximo. Quando eles discordam, não é porque são homem e mulher – é porque têm opiniões diferentes. Juntos eles lutam melhor, divertem-se mais e salvam mais gente. Salvam inclusive o espectador – de discursos vazios, de cenas genéricas de destruição e de mais um desapontamento. Agora que Zack Snyder teve de se retirar da direção de Liga da Justiça, por motivos infelizmente trágicos, acho que não há nem dúvida: meu voto para Patty Jenkins. Ela sabe o que está fazendo. Não necessariamente porque é mulher, mas porque é, antes de tudo, boa cineasta.
Leia a seguir a resenha completa:
Amazona Moderna
Em Mulher-Maravilha, o primeiro grande filme de super-heroína, vigora o pós-pós-feminismo: homens e mulheres só ganham quando lutam (e se divertem) juntos
Não é o primeiro contato que Diana Prince (Gal Gadot) tem com a ruína da I Guerra Mundial – ela já viu os mortos e os mutilados, já sentiu o impacto das bombas e dos gases venenosos, já testemunhou a devastação. Mas, na trincheira em que os soldados há meses se amontoam na lama fétida, Diana diz basta. Incendiada de indignação, ela avança sobre a “terra de ninguém” que a separa da trincheira alemã a passos largos, aparando as balas com os punhos e o escudo, impaciente para chegar ao outro lado e aniquilar os ninhos de metralhadoras, parar o inimigo, pôr um ponto final no horror – ao menos naquele horror particular, naquele dia. Trata-se de um fabuloso momento de virada em Mulher-Maravilha: o instante em que uma heroína compreende sua missão e se entrega a ela, e em que se mostra na sua plenitude física e na força inadiável de suas convicções. É, também, uma extraordinária cena de ação, coreografada com o máximo de vigor, impacto e originalidade – a israelense Gal Gadot, que foi treinadora de combate durante o serviço obrigatório no Exército, combina graça e potência em medidas copiosas, e a diretora Patty Jenkins extrai o sumo da fisicalidade e da personalidade da atriz. Pronto: tanto se adiou e temeu o projeto de uma megaprodução protagonizada por uma super-heroína, e ela chega como um acerto notável e como um divisor de águas.

Mulher-Maravilha não é um marco apenas do ponto de vista da conflagrada política de gênero de Hollywood; é decisivo também para o universo da DC Comics no cinema. Depois dos equívocos que empanaram o lustro de Homem de Aço e Batman vs Superman, e de um péssimo Esquadrão Suicida, a DC parece ter encontrado um diapasão pelo qual acertar seu tom. Com seus heróis em geral tão impolutos, a editora pratica um tom mais grandioso e grandiloquente que o da concorrente Marvel; às vezes, ele até namora o kitsch – como na introdução que acompanha a vida de Diana na Ilha de Themyscira, onde Zeus escondeu as guerreiras amazonas da cobiça de Ares, o deus da guerra. Mas, agora, esses atributos ganham um lastro imprescindível: propósito e consequência.

Não falta leveza a Mulher-Maravilha. Ela vem, sobretudo, da curiosidade da protagonista ante a criatura tão estranha – um homem! – que cai de avião na sua ilha. Salvo do afogamento pela amazona, o espião americano Steve Trevor (Chris Pine – que garota de sorte!) só precisa limpar o sal dos olhos para concluir que nunca viu mulher mais impressionante do que Diana. E Diana instintivamente sabe que este é um exemplar masculino, digamos, especial. Em cem outros roteiros, Diana e Steve bateriam cabeça o filme inteiro antes de se descobrirem almas gêmeas. No roteiro que Patty Jenkins concordou em dirigir, não. Steve e Diana causam certa perplexidade um ao outro, mas acolhem a atração imediata – e fácil, calorosa, cheia de flerte e de expectativa.

A quem esperava de Mulher-Maravilha uma visão pós-feminista, Patty oferece algo mais avançado e melhor: romance entre um homem e uma mulher que se apreciam mutuamente e que, quando se descobrem muito diferentes, tendem a achar que a diferença é bem agradável. Transferida da Ilha de Themyscira para a Europa conflagrada de 1914-1918, Diana, é claro, encontra recepção diversa. Roupas e costumes são talhados para coibir as mulheres, e delas só se espera aquiescência. A amazona nem tenta entender tamanha tolice. Impõe-se, apenas – não como mulher, mas como indivíduo. “Nada me agradaria mais do que não ter de ser anunciada como a mulher que dirigiu um filme sobre uma super-heroína. Sei que é um fato relevante, mas mal posso esperar pelo dia em que não o seja”, disse Patty a VEJA

Mulher-Maravilha tem assunto até mais urgente que abordar: a insensatez que mergulha 27 nações num massacre recíproco e produz dezenas de milhões de mortos, em nome de algo que ninguém sabe explicar. Também nessa frente a concepção de Patty se destaca pela escala humana e pela vocação para indagar. Em vez de procurar ganchos para espetáculos de destruição em massa, a diretora se propõe olhar este mundo pelos olhos sem vício de Diana. As cenas de ação resultam até mais eletrizantes, porque pessoais, explosivas, guiadas pela emoção – e impregnadas de sensação de fracasso e impotência.

É um exemplo de quanto o cinema comercial ganha por se estender para além de si mesmo: Patty Jenkins não é uma criatura da estufa de Hollywood, mas uma profissional com uma experiência pessoal variada – ela viveu mundo afora em função do trabalho do pai, piloto de caça e veterano do Vietnã, estudou pintura (são fartas as referências à arte renascentista em Mulher-Maravilha) e foi assistente em dezenas de sets antes de estrear com Monster – Desejo Assassino, para o qual se tornou correspondente da serial killer Aileen Wuornos enquanto esta aguardava a execução. Patty traz para o filme suas próprias reflexões acerca do mal, e conclui que são muitos os seus tributários. Por exemplo, a sede de poder, como no caso do general alemão Ludendorff (Danny Huston). Ou o desejo de ferir como se foi ferido, que move a desfigurada doutora. Maru (Elena Anaya). Ou ainda o medo e a ignorância. Ou talvez o mal seja mesmo uma das essências humanas. O deus Ares não explica a violência, como a amazona inicialmente crê; ele apenas a instiga, porque a violência está sempre pronta a ser instigada. Diana a combate com algo que, neste seu novo mundo, lhe parece ainda mais essencial preservar: a pureza de coração – bata ele em que anatomia bater.
| Isabela Boscov Publicado originalmente na revista VEJA no dia 31/05/2017 Republicado sob autorização de Abril Comunicações S.A © Abril Comunicações S.A., 2017 |
Trailer
| MULHER-MARAVILHA (Wonder Woman) Estados Unidos, 2017 Direção: Patty Jenkins Com Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Elena Anaya, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock Distribuição: Warner |



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO