
Um caso que nunca deveria ter sido reaberto
Cuidado: SPOILERS (mas não muito)
Justiça seja feita: foi Arquivo X o responsável por abrir caminho para as transformações extraordinárias pelas quais as séries de TV passaram nas últimas décadas. Mas verdade seja dita: 22 anos, na cultura pop, equivalem a algumas eras geológicas. E os 22 anos desde a estreia de Arquivo X, em 1993, foram especialmente longos: no meio deles aconteceu Família Soprano. E, a partir de Família Soprano, a teledramaturgia americana deu um salto quântico que Fox Mulder e Dana Scully mal conseguiriam compreender – quanto mais acompanhar. Chega a ser constrangedor, portanto, o relançamento de Arquivo X em uma minissérie de seis episódios.

As atuações são anêmicas: nessas coisas o coração sempre fala alto, e tenho visto fãs (presumo) da série original falando que a química entre David Duchovny e Gillian Anderson permanece intacta. Mas eu mesma me lembro dessa química como algo bem mais poderoso, não esse fastio com que eles aparecem em cena, esse ar de quem assinou o contrato e agora tem de encarar a chateação. Os diálogos são uma tristeza: escritos sem arte nem graça, consistem quase só de exposição de teorias conspiratórias – e não leva mais do que trinta minutos, no primeiro episódio, para Mulder “descobrir” que tudo aquilo de que ele se ocupou durante nove temporadas, entre 1993 e 2002, era uma farsa. As reviravoltas do roteiro são tão arbitrárias, e tão desajeitadas, que me pergunto se não foram sempre assim canhestras e o público pré- Família Soprano, The Wire, Breaking Bad, True Detective etc. etc. é que não se dava conta disso. Tenho até medo de rever as primeiras temporadas para tirar a prova; do jeito que está, esses dois episódios inaugurais exibidos pela Fox já arruinaram uma quantidade razoável de boas lembranças.

As contribuições de Arquivo X, na década de 90, foram decisivas. Foi a primeira série a criar não só um mundo particular (nisso a velha Star Trek talvez seja a pioneira), como uma mitologia própria na qual o público pudesse se enfronhar e com a qual, pela primeira vez na história, pôde interagir de fato – lançada no comecinho da internet, ela se aproveitou muito bem do novo recurso para expandir seu impacto. Chris Carter foi pioneiro, também, em instituir a figura do showrunner como a conhecemos hoje: o criador/roteirista/supervisor/entidade omnisciente que mantém a coesão do programa de episódio para episódio e de temporada para temporada. Sem esse precedente, talvez não tivesse sido possível a David Chase executar Família Soprano da maneira como o fez – e assim por diante. (Antes que alguém reclame, sim, o Rod Serling de Além da Imaginação foi um showrunner poderoso já nos 50 e 60, mas sua série, em formato de antologia, não se propunha o grande teste das novas séries, o de sustentar um arco dramático durante vários anos.) Por fim, Arquivo X foi um dos primeiros fenômenos conhecidos do que hoje se chama shipping: a arte de manter o público na torcida por um relacionamento amoroso que está sempre prestes a rolar (o termo não é derivado de “ship”, ou “navio”, mas sim de “relationship”, ou “relacionamento”).

Tirar um ícone pop como Arquivo X da aposentadoria é o tipo de coisa que só se faz por motivo incontornável – uma história tão boa, mas tão boa, que seria loucura resistir a ela. O apelo, aqui, parece ser outro: usar uma marca conhecida para abrir espaço numa grade de programação ultracompetitiva. E, assim, vai se diluindo cada vez mais o legado de uma série que já morrera morte lenta nas três últimas temporadas, e que já fora desonrada em dois longa-metragens desnecessários.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Morre Lucia Alves, atriz de novelas da Globo, aos 76 anos
Morre Lucia Alves, atriz de novelas da Globo, aos 76 anos O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF
O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF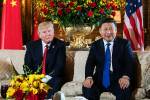 Trump ensaia mudança de rota após resposta da China
Trump ensaia mudança de rota após resposta da China  O valor exigido por Otávio Mesquita em processo por danos morais
O valor exigido por Otávio Mesquita em processo por danos morais Quem é a freira que quebrou protocolo ao se aproximar do caixão do papa
Quem é a freira que quebrou protocolo ao se aproximar do caixão do papa







