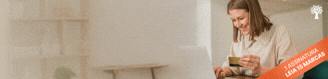Eu andava pelo Chile quando o nosso X, o antigo Twitter, desapareceu. “Qué pasa en Brasil?”, me perguntam em um almoço com colegas acadêmicos. “Longa história”, respondi, “mas basicamente continuam salvando nossa democracia”. Algumas risadas, um certo espanto, e a conversa migrou para outros assuntos. De minha parte, sempre achei o Twitter (muito antes do Elon Musk) uma rede tóxica, mas ótima para informação. Nos últimos anos fui selecionando um punhado de intelectuais que gosto de seguir. Niall Ferguson, Jonathan Haidt, por aí. “Agora complicou”, fiquei matutando. É um pouco como as eleições americanas. Boa parte do debate acontece no X. O jeito é pedir ajuda. Alguém de algum país menos neurótico, na vizinhança, mandar uns prints do que estão falando. O almoço terminou e fui dar uma volta pelas ruas de Santiago, com aquela pergunta no ar: “Qué pasa en Brasil?”. A indagação era um pouco mais complicada: como fomos cair na conversa de que “os instrumentos da democracia não eram suficientes para defender a própria democracia”? A ideia curiosa de que toda censura praticada no país, do PCO, do Marcos Cintra, do Guilherme Fiuza, daquela revista conservadora “que só tinha matérias jornalísticas”, daquela turma que protestava na frente de um evento em Nova York, era sempre necessária para nos salvar de algo. Mesmo agora, com mais força ainda. Dois anos depois das últimas eleições.
É o mesmo com o X. Ler a longa decisão sobre o fechamento da rede é uma aula sobre o estranho país em que nos transformamos. Em algum momento, há uma ordem de banimento de um senador. Em um tuíte, ele fala do Tribunal de Nuremberg e diz que um delegado, que cumpre funções de Estado (valeria para qualquer servidor público?), não deveria obedecer a ordens ilegais. Os termos não são os mais elegantes. Mas está lá. É a opinião do senador. Em outro tuíte, ele alerta que poderá faltar segurança para a reunião do G20, visto que o pessoal anda ocupado com “operações políticas”. É sua visão. Está errado? Não faço ideia. Digo apenas que é basicamente para isso que a Constituinte, nos anos 1980, deu a nossos parlamentares imunidade para expressar “quaisquer opiniões, palavras e votos”. Para que eles pudessem botar a boca no trombone se tivessem algo relevante a dizer sobre o Tribunal de Nuremberg, o princípio da legalidade, ou se quisessem fazer alguma denúncia. Sem a “curadoria” de autoridades. Sem o fantasma da censura prévia. E por quê? Para que nossa democracia fosse feita por um Parlamento isento de medo. De esquerda, de direita, não importa. E cuja responsabilização fosse feita dentro de ritos bem definidos. Que chamamos “devido processo”. Segundo uma “forma”, e não apenas uma finalidade. O que no fundo define a alma de uma república.
A pergunta crucial é velha conhecida: o que diz a lei? Não é preciso ir longe para encontrar uma resposta. Há dez anos, o Congresso aprovou uma lei dizendo que ao juiz cabe determinar a retirada de conteúdos da internet. Observe-se: “conteúdos”, não contas inteiras. Está lá, no Artigo 19º do Marco Civil da Internet. Conteúdos “com identificação clara e específica”, sob pena de “nulidade”. Por que isso? Para evitar o abuso. Para evitar a censura prévia. Tudo isso foi longamente discutido e defendido como uma conquista da democracia. Vale o mesmo para a imunidade parlamentar. Não é um privilégio, mas um tipo de bem público em uma sociedade liberal. E aqui é preciso ser claro: quando as leis dizem “quaisquer opiniões” e autorizam a retirada de “conteúdos”, e não de pessoas, não se trata de brincadeira. O direito se expressa por meio de palavras. Quando relativizamos o sentido das palavras, o que estamos relativizando, de fato, é a força dos direitos. E é precisamente isso que não deveríamos fazer.
Há um lado teórico, na decisão do STF, sugerindo que o “princípio do dano”, formulado por J.S. Mill em seu Sobre a Liberdade, poderia justificar o tipo de censura praticado no Brasil de hoje. A lógica: dado que uma autoridade considera que um discurso possa causar danos aos demais, justifica-se o banimento. Entrariam aí mesmo categorias muito abertas, como discursos de “ódio” ou “antidemocráticos”. Tudo o.k., com um detalhe: o argumento de Mill anda na direção contrária. O que Mill quis dizer é justamente que não se deve censurar alguém apenas porque emitiu uma opinião “odiosa”, signifique isso o que significar. Mill fez uma conhecida distinção para explicar essas coisas: “Uma opinião”, disse ele, “de que os negociantes de milho deixam os pobres famintos não deve ser molestada quando é simplesmente circulada pela imprensa”. Por mais que alguém discorde dessa opinião, ou que ela possa, indiretamente, causar algum dano futuro, deve ser admitida. Sua punição só deve surgir quando aquilo for dito “a uma multidão enraivecida em frente à casa de um negociante de milho”. A imagem não é um mero detalhe. Palavras configuram delitos apenas quando envolverem um risco claro e imediato.
“Ao relativizar o sentido das palavras, relativizamos os direitos”
O curioso nisso tudo é o apoio da sociedade. Algo que me fez lembrar, numa noite qualquer, de um pequeno livro perdido no tempo. O Discurso sobre a Servidão Voluntária, escrito por um tipo jovem e inquieto, Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne, na França da década de 1550. O livro parte de um insight do jovem La Boétie: nenhuma tirania sobrevive sem a aceitação popular. É uma premissa lógica. Se as pessoas se recusarem a obedecer, o poder se desfaz. A partir daí, ele se põe a pergunta: por que as pessoas aceitam? O Brasil, por óbvio, não vive uma tirania. Nosso problema é bem mais sutil. É a aceitação dessa estranha “militância da democracia”, cuja pedra de toque, por curioso que seja, é certo jogo com as regras do direito. E por aí vale a pena lembrar de La Boétie. Seu livro antecipa o paradoxo da ação coletiva: podemos todos desejar a liberdade, mas, nas urgências da vida, as coisas não funcionam bem assim. Vale a pena, para um jornalista, fazer uma crítica dura a uma medida de censura? Vale a pena para um jurista contestar a decisão de uma alta autoridade judiciária que julgará um caso seu logo ali à frente? E para um militante que quer mais é ferrar seu inimigo, faz mesmo sentido defender seu “direito à expressão”? Talvez seja isso. Mistura de medo, interesse, conveniência. O fato é que fui lá, na minha estante, limpei um pouco a poeira, e reli meu velho La Boétie.
O que talvez nos ajude é que estamos diante de uma experiência inédita em nossa democracia: não meia dúzia, mas um país inteiro bloqueado, feito um bando de crianças grandes, em uma rede importante para o debate público. E talvez surja daí algum caminho. O bloqueio do X mexeu com o dia a dia de muita gente, com o acesso à informação, com poder das pessoas para dizerem o que pensam. E é talvez por isso que vejo muita gente refletindo. Querendo entender aquela pergunta que me fiz, caminhando pelas ruas de Santiago. Para qual, confesso, ainda não encontro uma boa resposta.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO