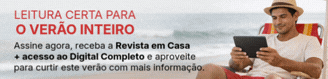O mistério da felicidade
Muitas vezes não sabemos lidar com o sofrimento, com as derrotas da vida, com nossos próprios erros. E com isso deixamos de aprender

O ano vai terminando, tem o novo governo, a melancolia do pessoal que perdeu, tem o verão abrindo seus braços. E muita coisa para pensar nesses dias em que cada um faz o seu balanço. Então resolvi fazer uma pergunta à simpática moça do café, no bar da faculdade: sobre o que eu deveria escrever na minha primeira crônica do ano? Ela não pensou muito: “Sobre a felicidade, professor, não tem coisa mais importante”. A resposta me pareceu evidente. Não que o debate político não seja importante. Mas, o.k., talvez seja uma boa hora para dar um tempo. Topei.
Há muitas teorias sobre a felicidade. Angus Deaton e Daniel Kahneman trabalharam com uma montanha de dados e chegaram a uma interessante conclusão: a partir de um ganho anual de 75 000 dólares, na média, não há acréscimos significativos da felicidade, entendida como “bem-estar subjetivo”. Tentei traduzir em termos brasileiros. Significa o seguinte: você ganha mal, mas vai progredindo. Cresce na empresa ou abre um negócio, e vai subindo. Em tese, sua felicidade vai aumentando. Algum conforto, viagens, condições de dar uma boa vida à família. Quando chega a 25 000 ou 30 000, a coisa estabiliza. Você não começa a entristecer, não se preocupe. Só não há um ganho de felicidade apenas pelo fato de você continuar engordando a sua conta bancária todos os meses.
Há muitas explicações para isso. Uma delas é dada por Steven Pinker e se chama “esteira hedônica”. As pessoas tendem a se adaptar ao progresso. E as pessoas comparam. De modo que alguém pode melhorar de vida, mas se os demais melhoram um pouco mais isso pode, ao menos em tese, reduzir seu grau de contentamento. Pinker provoca dizendo que seria a maior piada chegarmos à conclusão de que o “grande enriquecimento”, de que fala Deirdre McCloskey, que multiplicou a renda e mais do que duplicou a expectativa de vida no último século, não acrescentou nada muito verificável à felicidade humana. Na verdade, acrescentou. O ponto é que o ganho material faz apenas uma parte do serviço. Ele nos leva do térreo a um andar intermediário, como sugeriram Kahneman e Deaton, mas a vida é como um daqueles edifícios gigantes de Camboriú. Para chegar aos andares mais altos, é preciso trocar o segredo. Substituir a busca da felicidade pela produção do sentido. Trocar a obsessão do bem-estar pela aventura da realização humana. E aí as coisas se complicam um pouco.
Quem formulou isso bem foi Contardo Calligaris. Lembro de um texto dele dizendo: a questão não é tanto ser feliz, mas viver uma vida interessante. Uma vida que envolva risco e incerteza. E algum sofrimento. E infinitas trocas entre a satisfação, no curto prazo, e a realização de coisas maiores logo ali à frente. Jordan Peterson foi na mesma batida. Ele busca a imagem do yin e yang, do tao chinês. Vê ali a tensão entre o caos e a ordem. O caos como “aquelas coisas que não conhecemos nem entendemos”; a ordem como “os trens que partem na hora, o lugar em que o comportamento do mundo se iguala às nossas expectativas”. Ambos podendo ser ótimos, mas também desesperadores. Nossa melhor alternativa, diz, é percorrer o caminho estreito entre esses dois universos. Uma tarefa nada trivial. Diria a “grande tarefa” que não pode ser delegada e que só pode ser feita por tentativa e erro. Algo que ele recomenda que as pessoas façam “de cabeça erguida, com as costas eretas e os ombros para trás”. Seu ponto me pareceu o mesmo do Contardo. A felicidade não tem fórmula e possivelmente seja o alvo errado. O desafio é o significado. O tipo de “caráter”, diz Jordan, que forjamos diante do sofrimento. E, para isso, algumas grandes histórias do passado podem nos ajudar.
“Muitas vezes não sabemos lidar com o sofrimento, com as derrotas”
Todos temos nossas histórias preferidas. Escolhi duas. Uma delas fala sobre o caos: é a história de Oscar Wilde. Ele era o grande dramaturgo irlandês e a celebridade mais vistosa do mundo cultural londrino naquele fim de século XIX. Em um dado momento, foi condenado por sua relação com Bosie, o jovem aristocrata, numa época em que a homossexualidade era crime. Terminou na prisão de Reading, posto para empurrar a roda de um moinho, como um animal. Ele vai ao fundo do inferno, e em um momento ele ensaia uma virada. Ela vem na forma de uma longa e dolorida carta a Bosie: o De Profundis. Ele não acreditava na justiça de sua condenação, e tinha a consciência do absurdo que vivia. Era esse o sentimento insuportável. Se vivemos vidas absurdas, malogramos no único ponto em que não poderíamos malograr: a incapacidade de viver uma vida que faça sentido. Foi aí que Wilde decidiu domar o caos. Reconheceu a própria perda de controle, sua relação doentia com Bosie, a vergonha de Constance, sua arrogância no tribunal, a perda dos filhos. Tudo isso parecia oferecer um estranho sentido a sua punição. Ele aceita, então, o seu destino, e de algum modo reconhece que mesmo a prisão de Reading era uma decorrência da vida que ele próprio decidiu viver. E que agora, em meio ao abandono e ao sofrimento, lhe abria novas possibilidades. A partir daí ele é o herói de Jordan Peterson e pode, reconciliado consigo mesmo, seguir em frente.
A segunda história diz respeito à ordem. E sobre como ela pode nos esmagar. Seu herói é Nietzsche, que havia lido Montaigne logo após o Festival de Bayreuth, em 1876, andava com a saúde abalada, cansado da vida universitária, na Basileia, e recebe o convite sedutor de Malwida von Meysenbug para passar o inverno em Sorrento, na costa do Mediterrâneo. O convite era para formar uma pequena comunidade filosófica, que ele vê como a chance de “tirar umas férias da própria vida”. Ele topa. Troca uma posição razoavelmente estável, que envolvia uma posição, na instituição, pela vida incerta do pensador errante. A partir daí, ele também é o herói de Jordan Peterson. Aquele que decide “barganhar com o tempo”. Isto é, trocar a segurança de hoje pela incerteza e sua “potência”. Nietzsche, de certo modo, ganhou sua aposta. Foi o seu próprio profeta Zaratustra, que viria muitos anos depois, e aceitou o risco de caminhar em uma “corda estendida sobre um abismo”. Com isso se tornou Nietzsche. Em seu primeiro entardecer em Nápoles, diz lhe ter escapado uma lágrima “por ter começado a vida sendo velho”, e porque soube salvar a si mesmo, “no último instante”.
Wilde e Nietzsche não são modelos para nada. Hoje eles são heróis de nossa cultura, mas no momento dessas histórias estavam na pior. Nietzsche doente, exaurido da vida acadêmica; Wilde no quinto dos infernos. Talvez por isso suas histórias nos dizem algumas coisas. Dizem que muitas vezes não sabemos lidar com o sofrimento, com as derrotas da vida, com nossos próprios erros. E com isso deixamos de aprender. E que em outros momentos simplesmente afundamos lentamente pelo medo de arriscar um pouco na corda bamba. No fundo é disso que é feito o herói de Jordan Peterson. O herói democrático, que qualquer um pode encarnar. Aquele que não transfere. Que simplesmente assume o risco da decisão e aceita suas consequências. Que anda nesse território incerto que é a vida com as “costas eretas e os ombros para trás”. O melhor jeito, não tenho dúvidas, que temos para encarar este 2023 novinho em folha que temos pela frente.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 4 de janeiro de 2023, edição nº 2822



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO