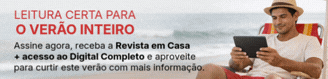Classe 2028
No nosso apartheid educacional, o governo entrega ensino de menor qualidade e quem tem dinheiro migra para o setor privado. Os mais pobres ficam sem opção

“Ele vai voltar”, diz a mãe de Caio, 16 anos, que largou o ensino médio, durante a pandemia, para trabalhar. “Não tava dando.” Internet ruim, celular pequeno, dificuldade para entender a matéria, em especial matemática. “No fim desisti”, diz ele. Sua história é a crônica quase infinita desta pandemia. Com 3,8 bilhões de reais, diz o IPEA, poderíamos ter garantido tablets e acesso digital a todos os alunos. Mas não fizemos. O resultado é que a evasão explodiu. O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, diz que a aprendizagem dos alunos regrediu em até catorze anos, e usa a palavra “tragédia” para definir o que se passou na nossa educação.
Minha tese é que ninguém, no fundo, se preocupa muito com isso. E a razão básica é que o Brasil do andar de cima soube se proteger bem, na pandemia. As escolas particulares levaram um baque, no início, mas rapidamente se reorganizaram. A maioria dos bons colégios voltou, on-line, duas ou três semanas depois do cancelamento das aulas, e não parou mais. No setor público foram meses. Símbolo disso é o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Colégio criado no Império, antigo símbolo de excelência no ensino brasileiro. Neste ano triste de 2021, decidiu não voltar. “Só em 2022.” Não o fez por uma decisão judicial.
O setor público ficou para trás pelas razões de sempre. Falta internet, alunos sem computador, professores sem treinamento, corporação resistindo a voltar. E sem pressão de mercado. Sem os pais se queixando, na secretaria, e ameaçando a trocar de escola. O que temos, na prática, é uma confissão de derrota. De um sistema que deveria fazer exatamente o que não fez: prover o acesso, garantir os equipamentos, treinar professores. Dinheiro não faltou. Uma parcela mínima do gasto extra com a pandemia teria dado conta do problema. Não o fizemos porque os pais de escola pública não têm força política, nem de mercado. “Vão fazer o que”, me diz um secretário, “mudar de escola?”. Por que raios, ele diz, a burocracia pública teria senso de urgência? Alguém acha que perderia o emprego, se as coisas não funcionassem?
É assim que funciona nosso apartheid educacional. A pandemia foi apenas seu striptease. Sua lógica é simples: o governo entrega um ensino de menor qualidade e quem tem dinheiro migra para o setor privado. Os mais pobres ficam sem opção. Criam-se dois mundos: um, feito de escolhas, maior renda e majoritariamente branco; outro, estatal, de menor renda e majoritariamente negro. Nada disso produto da “loteria natural”, como por vezes escuto, por aí, mas de um mundo excludente que nós mesmos desenhamos.
Os resultados disso são conhecidos. Quem teve a chance de escolher terá ainda mais chances no vestibular e no mercado de trabalho. Os demais, pouco mais de 80% de nossos alunos, ficam para trás. O Estado, que deveria produzir maior igualdade de oportunidades, torna-se ele mesmo gerador de desigualdade.
Nossa educação estatal tem má performance exatamente pelo mesmo motivo que nossos presídios estatais não recuperam os apenados e nossos aeroportos eram (e alguns ainda o são) obsoletos. O nó da questão está nas amarras da burocracia, corporativismo e ingerência política. É para mudar essas coisas que hoje fazemos concessões de parques nacionais e redes de saneamento. E é por isso que, um a um, nossos aeroportos vão passando à gestão privada. Porque queremos que eles funcionem. E estamos com pressa.
Só na educação pública parecemos não ter pressa nenhuma. E a principal razão disso, suspeito, vem do fato simples de que quem toma decisões, por aqui, precisa mais de bons aeroportos do que de boas escolas. Uma elite feita de políticos e especialistas em educação decidindo, no Congresso, que “o Fundeb só pode financiar escola estatal”. Sempre com o cuidado, por óbvio, de matricular os próprios filhos em boas escolas privadas.
Deveríamos parar de jogar nas costas dos mais pobres o peso da ineficiência estrutural de nossa máquina estatal. De um lado, apostar na melhora das redes públicas tradicionais; de outro, não ter medo de inovar. Trocar a fixação ideológica por uma exigência ética: assegurar aos mais pobres uma educação de qualidade similar à que tem acesso nossa classe média.
“Uma alternativa é financiar os alunos, em vez de o sistema, como no ProUni”
As possibilidades de inovação estão aí. O governo de Minas acaba de fechar uma parceria para a gestão privada de três escolas, num modelo muito próximo ao das escolas Charter. O modelo é simples: em vez de gerenciar diretamente as escolas, o governo passa à condição de regulador e financiador. Assina um contrato de gestão e fiscaliza a qualidade do serviço. Em Porto Alegre, a prefeitura firmou contratos com diferentes perfis de escolas privadas. Uma delas é confessional e atende alunos bolsistas e não bolsistas. Ganha-se diversidade. Alunos de maior e menor renda convivem em um espaço plural. Outra é com uma escola com o método Lumiar, baseado em projetos, até então inacessível a alunos de menor renda.
Nos últimos anos, cresceu o uso de PPPs para administrar desde parques até programas de universalização da internet, como se fez no Piauí. Por que isso não poderia ser feito na educação? Já há uma experiência nessa linha, na gestão de uma rede de cinquenta escolas infantis em Belo Horizonte. O parceiro privado constrói a escola em um tempo médio de onze meses (contra vinte meses do setor público) e faz a gestão operacional. Os diretores têm, em média, 25% a mais de tempo para se dedicar aos temas educacionais. Em vez de “apagar incêndios”, como escutei de uma diretora da rede.
Outra alternativa é financiar os alunos, em vez de o sistema. O Brasil possui um incrível exemplo disso, criado no governo Lula: o ProUni. O programa tem baixa burocracia e dá ao aluno o direito de escolha. O custo é baixo e os resultados, surpreendentes. Pesquisa do IPEA mostrou que os bolsistas obtiveram, no Enade, nota média 10 pontos acima dos alunos não bolsistas. “Políticas de ajuda financeira aos alunos de baixa renda”, conclui o estudo, “são capazes de conjugar inclusão e qualidade”. A pergunta óbvia: se o programa funciona no ensino superior, por que não poderia funcionar no ensino básico?
Nova York foi uma das primeiras metrópoles americanas a implantar em maior escala o modelo das escolas Charter. Hoje são perto de 300 escolas públicas gerenciadas em redes de alta performance, como a Kipp, Success Academy e Achievement First. Pesquisa de Stanford mostrou que seus alunos têm um ganho de 63 dias, mais de um terço, de aprendizagem de matemática em relação aos alunos de escolas públicas tradicionais, e que é ainda maior para alunos negros, que são a maioria nas Charters.
Anos atrás visitei uma dessas escolas, a Kipp Infinity Charter School, no Harlem. Me lembro do silêncio, da concentração dos alunos, 70% negros, naquela escola com jeito de startup californiana. Lembro das listas com o desempenho dos alunos, nas paredes, e de uma miniatura da Casa Branca, com direito a um bonequinho do Obama, que os alunos visitariam no fim do ano. “Nossa obsessão”, me disse a diretora, “é não perder nenhum deles”. Em uma sala com alunos pré-adolescentes, leio “classe 2028”. Pergunto o porquê daquele número. “É quando eles vão se formar na universidade”, me diz a diretora.
Imediatamente me lembrei do Brasil, e confesso que me bateu alguma coisa. Era impossível não ligar alguns pontos tão evidentes, e com aquela sensação fui caminhando em direção ao metrô da Martin Luther King Boulevard, na manhã fria do Harlem.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2021, edição nº 2765



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO