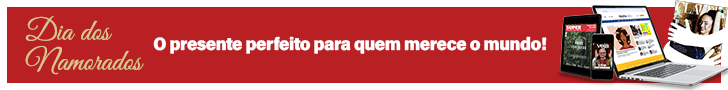Leia a reportagem histórica de VEJA citada em ‘Ainda Estou Aqui’
Primeiro filme brasileiro oscarizado tem trecho da reportagem de VEJA que confirmou o assassinato do ex-deputado Rubens Paiva por agentes da ditadura

O Oscar 2025 exibiu um trecho da reportagem histórica de VEJA publicada em 1986 que confirmou a morte do ex-deputado Rubens Paiva pelas mãos de agentes da ditadura militar no DOI-CODI do Rio de Janeiro, nos anos 1970, lançando luz sobre um dos mais bárbaros crimes do regime. Um recorte da matéria impressa aparece rapidamente em uma cena do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional na premiação, um feito inédito para o Brasil.
Confira, a seguir, a reportagem completa:
A Hora da Verdade
Quinze anos depois, novas luzes na morte de Rubens Paiva

O segundo-tenente Jurandir Ochsendorf e Souza, 46 anos, que mora em Brasília e trabalha no Centro de Informações do Exército, CIE, sente muita dificuldade para lembrar-se do passado. “Estou impedido de fazer declarações”, disse Ochsendorf na última sexta-feira. “Não se aborreça comigo.” Num apartamento de Copacabana, o general da reserva Raimundo Ronaldo Campos também prefere guardar para si as recordações de uma década e meia atrás. ‘Tenha paciência e aguarde o momento oportuno”, declarou. Na companhia de um reduzido grupo de oficiais, o general Ronaldo Campos e o tenente Ochsendorf e Souza guardam um segredo terrível. Na madrugada de 21 para 22 de janeiro de 1971, massacrado por torturas, aos 41 anos, o ex-deputado Rubens Beirodt Paiva, parlamentar do PTB cassado em 1964, agonizava numa hemorragia interna que acabaria provocando sua morte.
O Brasil tinha 78,8 milhões de habitantes, naquela época — mas ninguém soube disso, nem a mulher de Paiva, Eunice, nem seus cinco filhos. Campos, que à época era um capitão, bem como Jacy Ochsendorf e seu irmão Jurandir, que eram sargentos, participaram de uma operação destinada a esconder o crime. Segundo essa versão, lavrada numa sindicância conduzida pelo major Ney Mendes e referendada, mais tarde, pelo general Sylvio Frota, comandante do I exército, Rubens Paiva não morreu — mas fugiu sequestrado por um grupo armado, “possivelmente terrorista”. Conforme esse documento, o capitão Ronaldo dirigia o automóvel Volkswagen, de onde o deputado teria escapado, e os outros dois militares o auxiliavam na escolta do prisioneiro. Hoje, eles sentem dificuldade para querer recordar o que aconteceu. “Como oficial de cavalaria blindada, dirigi muito carro de combate na vida. Mas este, eu não sei” , afirma Ronaldo Campos.
Cadáver insepulto da política brasileira, há um mês Rubens Paiva começou a reaparecer em público. Apoiado pelo ministro da Justiça, Paulo Brossard, o procurador-geral da Justiça Militar, Francisco Leite Chaves, determinou a reabertura de um inquérito para investigar o caso. Rubens Paiva está de volta. Trouxe-o também, segundo Leite Chaves, o presidente José Sarney, com quem o procurador tratou o assunto.
Há uma semana, em depoimento a VEJA, o médico Amilcar Lobo, que servia nos órgãos de segurança, contou que viu o ex-deputado numa cela do 2° andar do DOl, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, quando se apresentar à Polícia Federal para prestar seu depoimento, Lobo dará um cunho oficial a seu testemunho. “Confirmo o que disse” , afirma. O general Campos diz que, se for intimado, também vai falar. “Tudo que sei vou declarar na hora do depoimento”, afirma. Na sexta-feira, Jurandir Ochsendorf e Souza deu a entender que, se chamado a comparecer à Polícia Federal, irá.

DOUTRINA BRUNO – Nesse passo, a tragédia que marcou o fim da vida do deputado pode ter um segundo desfecho, menos traumático. ‘Agora, posso me considerar viúva e meus filhos sabem que são órfãos”, afirma Eunice Paiva. *O depoimento do Lobo foi um ato de coragem”, afirma o escritor Marcelo Paiva, filho do ex-deputado. Em Brasília, a semana começou com a promessa de uma crise política entre o presidente Sarney e os ministros militares. Na tarde de quinta-feira, porém, descobriu-se uma boa novidade nessa área.
Desde 1976, quando se aboliu a censura aos jornais e vieram a público denúncias de torturas e mortes nos porões do Al-5, o país habituou-se a esperar reações zangadas de onde elas sempre vieram – dos ministros militares. Há cinco anos, por exemplo, quando Inês Etienne Romeu descobriu a casa em Petrópolis onde fora torturada, o ministro do Exército, Walter Pires, reagiu com dureza. “*Estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se opor a agitadores e terroristas, de armas na mão, para que a nação não fosse levada à anarquia” , afirmou Pires. Inês Etienne não queria que o general Pires abandonasse os torturadores da casa de Petrópolis, mas, acima de tudo, registrar que ela fora brutalizada por militares num aparelho clandestino e, portanto, fora da jurisdição do ministro. Estava enganada. Na semana passada, após uma reunião com o ministro da Justiça, Paulo Brossard, na terça-feira, o ministro do Exército divulgou uma nota oficial sobre o caso Rubens Paiva — e havia, ali, uma boa notícia. A nota trocou a doutrina Walter Pires, da solidariedade furiosa com práticas ilegais e clandestinamente conduzidas, pelo que se pode chamar de Doutrina Anibal Bruno, falecido jurista pernambucano, para quem a Lei de Anistia, como a aprovada pelo Congresso em 1979, tem o poder de extinguir o crime e a pena — mas não o de apagar a História.
NÃO É REVANCHISMO – “O fato como crime cessa de existir”, ensina Bruno, citado na nota do Ministério do Exército, “mas subsiste como acontecimento histórico e dele podem resultar efeitos não penais. Um deles é a obrigação civil da reparação.” O cerne da mudança é este. Em 1981, quando respondeu a Walter Pires diante da descoberta da casa de Petrópolis, o então senador do PMDB Paulo Brossard também se apoiou nas teses de Bruno para alimentar um discurso que ficaria famoso: “Anistia e torturas”. Ali, Brossard valia-se, inclusive, do mesmo trecho resgatado na nota do general Leonidas. Na terça-feira, Brossard e o ministro do Exército se reuniam para redigir o que se transformou no primeiro tratado de paz entre lideranças que, mesmo sob o guarda-chuva comum do ministério do presidente José Sarney, até então frequentavam linhas diversas. “Se o senhor ler o meu discurso e a nota do Exército vai verificar que existe uma mesma linha de pensamento”, garante Brossard.
O ministro Leonidas recolhia-se na semana passada ao silêncio. O melhor, para ele, seria que não houvesse um reaquecimento do caso Rubens Paiva — mas essa hipótese veio abaixo desde que o ex-tenente e médico psiquiatra Amilcar Lobo resolveu falar o que sabe. Leonidas comanda, num regime civil, sob a plena vigência das franquias democráticas, um Exército fisicamente diverso daquele de 1971, quando mataram Rubens Paiva. Cerca de 70% dos 12 500 oficiais que hoje estão no Exército frequentavam os bancos escolares em 1971. Todos os tenentes eram menores de idade. Todos os capitães ainda não tinham chegado aos quarteis e metade deles eram menores. Metade dos majores ainda não haviam sido declarados aspirantes.
“Apurar não é revanchismo” afirma o tenente-brigadeiro-do-ar George Belham da Motta, ministro no mesmo Superior Tribunal Militar que, quinze anos atrás, e com outra equipe, decidiu arquivar o inquérito sobre a morte do deputado, embora já houvesse evidências de que a investigação não passara de um arranjo entre os oficiais do DOI do Rio de Janeiro interessados em esconder um crime (veja o mapa abaixo).’Acredito que os militares sairão engrandecidos dessa apuração, que só não interessa aos torturadores, se é que eles existiram”‘, afirma o brigadeiro.
Como é sabido que existiam torturadores nos órgãos de segurança, também era previsível que, na semana passada, soassem vozes dissonantes no coro militar em que, até há pouco, imperava a unanimidade. “Sou de direita e contra a democracia”‘, afirma o general Fiuza de Castro, ex-chefe do CIE. Ele também é contra a reabertura do inquérito sobre Rubens Paiva. “A tortura sempre aconteceu em todos os países do mundo”, afirma o coronel Nereu de Matos Peixoto, que nos anos 70 foi chefe de gabinete do comandante João Paulo Penido Burnier na 3ª Zona Aérea, no Rio, primeira parada na dolorosa viagem sem retorno de Rubens Paiva pelos órgãos de segurança. “É uma forma legítima de defesa putativa”, prossegue Matos Peixoto. Esquece-se o coronel de que não há tortura de presos políticos hoje no Brasil e ninguém no governo pensa em torturá-lo para defender o regime democrático.
Para o ministro Leonidas, o ideal é que o inquérito chegue à conclusão de que o culpado pela morte do ex-deputado é a União, esse ente jurídico que engloba a federação, os Estados, a República e os municípios do país. No caso do jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências do DOI-CODI de São Paulo em 1975, a fórmula era fácil de ser aplicada. Havia um cadáver e duas versões para explicá-lo. Numa delas, a oficial, sustentava-se que Herzog se matara. Na outra, afirmava-se que não houve um suicídio, e sim um assassinato. Como, em qualquer caso, a morte do jornalista ocorrera numa dependência militar, pôde-se responsabilizar a União pelo fato sem proceder a uma devassa que resultasse na identificação de culpados.
No caso Rubens Paiva, unem-se duas famílias de problemas. Há poucos dias, em nota oficial, o Ministério do Exército voltou a afirmar que Paiva fugira. Se Rubens Paiva fugiu, então a União não tem nada a ver com o caso e não pode ser responsabilizada. Se ele não fugiu e, portanto, a sindicância foi um cambalacho, é preciso que alguém o diga, porque Paiva não pode, ao mesmo tempo, morrer na PE para culpar a União e fugir dela para resguardar a sindicância, o capitão Ronaldo e os suspeitos Ochsendorf. A outra dificuldade é de ordem prática. Escondidos sob o tapete do regime anterior, ficaram, além de Rubens Paiva, outros 124 presos políticos dos quais não se conhece o paradeiro — os desaparecidos. Quando se aceita o testemunho de Amilcar Lobo para um caso, será possível ignorar o depoimento, em outro, de um companheiro de cela de Mário Alves que o viu agonizando numa PE, em 1970, massacrado pelas torturas? O depoimento de Alex Pollari, que avistou o dirigente do MR-8 Stuart Angel sendo arrastado por um jipe, no pátio de um quartel, também não serviria como prova?

“CRIME PERFEITO” – A partir desta semana, haverá o confronto de uma força que empurra o inquérito para a frente, em direção à verdade, e outra que o puxa para trás, para a farsa de 1971. “A reabertura desse caso só pode interessar a quem deseja denegrir a imagem do Exército”, afirma um graduado oficial da área de informações. Na verdade, porém, o Exército jamais torturou alguém e muito menos matou. O que ocorreu, entre 1968 e 1977, foi a existência de alguns comandantes que estimularam e formaram torturadores que agiam em prédios militares. Como instituição, o Exército está fora da questão pelo fato crucial de que uma pessoa não pode ser torturada por um Exército nem por uma Marinha, nem por um Legislativo. Quem tortura e manda torturar são pessoas, não instituições.
“O pessoal que cismou de fazer aquela versão do sequestro teve a ilusão do crime perfeito”‘, afirma um general. “Foram enfeitar demais e acabaram enrolados.” “No quartel, dizia-se que a história tinha muita imaginação”, afirma o general Fiuza de Castro. A essência policial do caso Rubens Paiva é esta: como um grupo de pessoas que, simultaneamente, pratica um crime e faz questão de inventar uma ordenada sequência de álibis para confundir as investigações posteriores, os oficiais dos órgãos de segurança que o mataram deixaram poucas pistas sobre o que haviam cometido na realidade. Em compensação, no esforço de provar, por antecipação, que eram inocentes, puseram a rolar uma bola de neve.
Além do recibo de entrega à família de seu automóvel Opel Kadet, em que Rubens Paiva foi levado à prisão – ele, ao volante, ladeado por dois homens armados —, não se dispunha de qualquer outro indício material de que estivera detido, muito menos de um testemunho decisivo para elucidar sua morte, até o depoimento do ex-tenente Amilcar Lobo. No entanto, a versão do major Ney Mendes, encarregado da sindicância de 1971, em que se afirmava que um homem pesando quase 100 quilos, com uma fratura no tornozelo direito, conseguira saltar do banco traseiro de um Volkswagen, atravessar o fogo cruzado de um tiroteio e fugir sem sofrer qualquer ferimento, era tão rica em detalhes como absurda em sua essência. “Temos de saber o destino do paciente, se está morto ou vivo”‘, reagiu o ministro Alcides Carneiro, do Superior Tribunal Militar, quando teve a oportunidade de examinar o documento em maio de 1971.
FARSA NA VIDA REAL — “Fui um moleque de recados no caso Rubens Paiva”, admite o suplente de deputado Nina Ribeiro, na época porta-voz da comunidade de informações, a quem coube a tarefa de ler na tribuna da Câmara dos Deputados a versão oficial de sequestro. Num requinte raro, a farsa foi encenada duas vezes — uma na vida real, a outra no papel. A primeira encenação se deu na noite de 21 para 22 de fevereiro de 1971, às 4h30 da madrugada, poucas horas depois de Rubens Paiva morrer no DOI-CODI do Rio de Janeiro. Segundo as evidências reunidas até agora, um certo “Capitão Aranha” deu queixa na 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca, informando que “o elemento Rubens Seixas” havia sido sequestrado por terroristas.
No tiroteio, conforme relatou o capitão, o Volks que ele pilotava, onde também viajavam dois militares menos graduados, havia pegado fogo – e até foi tomada a providência de chamar o Corpo de Bombeiros. Para dar uma nova fatia de credibilidade à encenação, os jornais foram avisados – e exibiram a fotografia de um Fusca incendiado. Uma confusão desse tipo é um fato que dificilmente fica esquecido mesmo passados quinze anos. No entanto, o comissário Normando Gomes dos Santos, 47 anos, que teria assinado a ocorrência, não se lembra de mais nada. “Faz muito tempo”, afirmou. Santos também disse duvidar de que tenha posto sua assinatura no papel policial. Pelo regulamento da época, não poderia fazê-lo.
No documento do major Ney Mendes, a cadeia de fatos é a mesma — com a diferença de que, ali, os personagens recebem nomes reais. Foi assim que o Capitão Aranha se tornou o capitão Raimundo Ronaldo Campos, e apareceram os sargentos Jurandir Ochsendorf e Souza e seu irmão Jacy Ochsendorf e Souza.
“FOMOS ACHACADOS” – Morto Rubens Paiva, o ministro da Justiça Alfredo Buzaid recebeu em sua própria casa a mulher do deputado, Eunice Paiva, seu cunhado, o advogado Cassio Mesquita Barros, titular de uma próspera banca em São Paulo, e o rico empresário Jaime Almeida Paiva, seu pai. Conhecido da família, para quem chegara a prestar serviços como jurista, Buzaid garantiu que Rubens Paiva estava vivo, sofrera apenas “alguns arranhões” e logo seria liberado. “O ministro parecia sincero”, afirma Barros. É possível que, na ocasião, Buzaid não soubesse da verdade. No momento em que a soube, porém, calou-se — E entrou na engrenagem para encobri-la. Com seu voto de Minerva, desempatou uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em que se debatia a reabertura do caso, determinando o arquivamento das investigações. Desde então, também se recusou a receber os familiares do deputado para novas audiências. “Fomos achacados, como se tudo não passasse de um sequestro promovido por marginais” , afirma Eliana Paiva, 30 anos, segunda filha de Rubens Paiva, que, uma década e meia atrás, passou 24 horas no DOI do Rio.
Poder paralelo dentro das Forças Armadas e do próprio governo, a máquina de tortura esnobava ministros, garantia privilégios a seus integrantes e funcionava como abrigo inviolável para a corrupção. Em sua lógica criminosa, porém, essa máquina também permitia traições ao próprio governo que a sustentava. Pelo suborno, era possível receber notícias, frequentemente falsas, sobre o que se passava nos porões do regime ou até enviar um remédio a um parente. Nessa encruzilhada, em que um servidor do governo era capaz de descobrir condições favoráveis para obter benefícios, o resultado só poderia ser o pior.
A lenda de que Rubens Paiva fugira podia ser um desafio à razão, mas, para sua família, representava um absurdo fio de esperança ao qual todos buscavam se agarrar. Sem outra alternativa além dessa esperança tênue, o pai do deputado promoveu mais de um e no máximo cinco encontros com oficiais da área de informações, em que o assunto de sua hipotética libertação era o assunto dominante. Segundo um familiar, uma dessas promessas custou ao empresário a quantia de 1 milhão de cruzados, em dinheiro de hoje.
CASO EXEMPLAR – Rubens Paiva nunca voltou, mas, desde a semana passada, um novo mistério crescia ao seu retorno. Em 20 de janeiro de 1971, um regime que censurava correspondência vinda do exterior foi buscá-lo em casa por causa de uma carta que uma amiga da família trouxera do Chile. Ali, Helena Bocayuva, que ele ajudara a sair clandestinamente do país pela fronteira de Foz do Iguaçu, num dia em que o Brasil disputava uma partida pela Copa de 1970, no México, mandava uma mensagem pessoal — mas perguntava por Adriano, dirigente da organização MR-8 na época. Na semana passada, descobriu-se que Adriano era o codinome do líder estudantil Carlos Alberto Muniz, hoje dirigente regional do PCB no Rio de Janeiro. Também já se sabia que, durante quinze anos, os órgãos de segurança esconderam a verdade, e havia uma rara chance de desvendá-la até o fim. Em torno de Rubens Paiva, no entanto, restou um enigma. Engenheiro e empresário bem-sucedido, inimigo do regime de 1964, dono de ideias nacionalistas, ele gostava de vinhos e charutos e dizia que jamais pretendera se transformar num herói. Na prisão, sabe-se que pouco falou além do próprio nome. A maneira como se deu a morte de Rubens Paiva e todas as farsas que a ela se seguiram foram talvez o mais exemplar dos casos através dos quais se pode estudar o regime que acabou no dia 15 de janeiro de 1985, com a eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República. A maneira como se conduz o caso, agora reaberto, é um exemplo de como se pode julgar o novo regime.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas