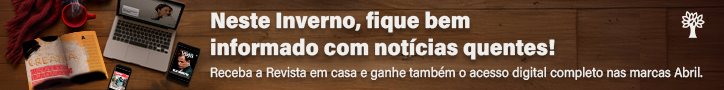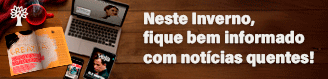Rir para não chorar: a sátira mordaz de um refugiado da Guerra do Vietnã
Com romances que expõem as contradições do homem e do mundo pós-colonial, Viet Thanh Nguyen é autor inescapável para ler as crises contemporâneas

Para o escritor americano de origem vietnamita Viet Thanh Nguyen, o humor é uma arma política e também uma técnica de sobrevivência. Fazendo de suas dores como refugiado de uma guerra brutal o motor da criação literária, o autor dos livros O Simpatizante e O Comprometido se aferra à sátira para eviscerar um mundo legado pela sanha colonialista e militar.
É rir para não chorar, mas também para conhecer e se sensibilizar com as pequenas histórias daqueles que foram tocados (e maltratados) por eventos que moldaram a História, esta com “H” maiúsculo, no século XX.
Nos dois romances que integram uma trilogia a ser concluída, publicados pela Editora Alfaguara, somos apresentados a um espião e agente duplo que, nos estertores da Guerra do Vietnã, viaja para os Estados Unidos e depois para França, cumprindo missões tanto para o lado capitalista e rechaçado do país quanto para o lado comunista, que fez a revolução, expulsou os americanos e conquistou o poder.
As obras ganharam as livrarias com o rótulo de thriller de espionagem – mas são muito mais do que isso. É literatura de primeiro escalão: uma narrativa que, do trabalho com a linguagem ao enredo em si, se esmera em surpreender (e provocar) o leitor. Acompanha as tragédias de um povo acossado por ideologias e interesses divergentes sem deixar de expor a comédia humana em seus mínimos e sórdidos detalhes.
Talvez esteja aí a receita do sucesso. Best-seller internacional, O Simpatizante venceu o prestigiado prêmio Pulitzer de ficção em 2016 e foi adaptado para uma série de TV. Agradou público, crítica e, agora, espectadores. O Comprometido, recém-chegado ao Brasil, não perde o fôlego e a (des)compostura. E o terceiro elemento está por vir…
A questão dos refugiados nunca esteve tão acalorada mundo afora. A obra de Viet Thanh Nguyen, ele mesmo fruto e crítico do processo que resultou nessa “crise”, se torna inescapável para entender os dilemas e desafios que pesam sobre indivíduos e nações construídos sobre uma porção de contradições. A história certamente é dura, mas é preciso enfrentá-la – de preferência, com uma dose de humor.
Com a palavra, o autor.
Há uma passagem do livro O Comprometido em que o narrador questiona se o Vietnã será associado para sempre com “guerra, tragédia e morte”. Como você enxerga esse impacto persistente da guerra?
Eu acredito que, durante muito tempo, qualquer menção à palavra Vietnã fora do próprio Vietnã realmente trouxesse muitas associações tanto com a guerra como com o colonialismo. Isso envolve, desde os anos 1950, a luta dos vietnamitas contra os franceses e sua vitória em Dien Bien Phu e depois a guerra com os EUA, tendo se estendido por décadas após o fim do conflito. Agora talvez tenhamos chegado a um ponto em que as mudanças no capitalismo global, e o novo lugar do Vietnã nessa história, quase como um aliado dos EUA no Sudeste Asiático diante da China, estejam por trás de uma transformação na imagem do país no imaginário global.
Certamente há uma memória muito forte da guerra contra os americanos e os franceses, mas os esforços após a revolução para transformar o Vietnã em um país bem-sucedido projetam hoje a imagem de uma economia turística que cada vez mais se faz presente na mente das pessoas.
Mas qual seria a visão dos vietnamitas?
Vejo uma ambivalência. Por um lado, o governo e o povo do Vietnã querem ter capitalismo e progresso econômico. Por outro, a legitimidade do Partido Comunista no Vietnã baseia-se em sua história revolucionária. O partido e o povo querem esquecer essa história de guerra e revolução, mas, ao mesmo tempo, ela permanece com eles porque foi assim que o Partido Comunista chegou ao poder.
E, já que você vive nos EUA, o que ficou no imaginário americano?
Acho que os EUA gostariam de colocar essa memória da guerra para trás ou, se quiserem se lembrar dela, tentar fazê-lo de uma forma positiva. Pensar que os americanos lutaram uma guerra nobre na qual acabaram fracassando. Mas há também a persistência daquela memória de uma guerra ruim, isso ainda está lá.
Do meu ponto de vista, nos últimos 30 anos de história americana, muito do que os EUA tentaram fazer no exterior está ligado a essa memória da Guerra do Vietnã. Conflitos no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque… Os EUA tentam esquecer o legado da Guerra do Vietnã, mas ele retorna porque o país tem travado guerras perpétuas que não pode vencer. É tudo aquilo que a Guerra do Vietnã prenunciou. Há uma relação muito complexa e contraditória com a memória da guerra.
E novas memórias ruins acabam sendo criadas, porque, desde os ataques de 11 de setembro, os EUA vêm se envolvendo em guerras terríveis que não podem vencer. Mesmo assim, parece que muitos americanos não se lembram ou não se preocupam com isso. A guerra no Afeganistão terminou há apenas três anos e desapareceu quase completamente da discussão por aqui.

Seus romances tecem críticas tanto ao modelo capitalista quanto ao regime comunista. Ainda acredita numa espécie de revolução social?
Ainda acredito. Penso que, quando olhamos para as revoluções no século XX, que foram lideradas pelos movimentos comunistas e descolonizadores, há virtudes e falhas em todas elas. E penso que uma das limitações dessas revoluções foi o fato de haver uma tremenda ênfase na questão de classe e na tomada do Estado por qualquer meio, seja violento ou não. Então, embora esses processos tenham sido cruciais, ainda há mais a ser feito.
Acredito que a parte inacabada dessas revoluções é justamente a transformação social, a ideia de construir sociedades mais justas. Não se trata de um partido ou um governo com todo o poder, mas de o povo ter o poder.
Se olharmos para a revolução comunista vietnamita, veremos que ela conseguiu livrar-se dos ocupantes estrangeiros e devolver o controle do país aos vietnamitas. Mas será que construiu realmente uma sociedade justa? Isso é muito discutível. Essas questões perpassam meus dois romances, e certamente estarão no terceiro e último da série, que estou escrevendo.
Para mim, foi importante escrever O Comprometido porque queria demonstrar que mesmo as revoluções francesa e americana sofrem dos mesmos problemas. E, no entanto, projetamos toda a culpa sobre as revoluções comunistas. Acredito que as revoluções comunistas podem ter tido mais sucesso ao menos nessa distribuição equitativa da riqueza e dos recursos, enquanto as revoluções francesa e americana foram exitosas em apresentar uma sociedade mais inclusiva e liberal.
Então eu diria que adoraria viver em algum tipo de futuro revolucionário em que pudéssemos ter sociedades mais tolerantes e inclusivas e economicamente mais igualitárias.
Vivemos momentos de tensão com a questão das imigrações e dos refugiados hoje. Sua experiência de vida e sua obra se conectam muito com esse tema, não?
Meus romances têm um personagem central que obviamente tem duas faces, que luta consigo mesmo em meio a contradições. Mas acredito que ele também sirva de metáfora para o fato de que as próprias nações são construídas sobre contradições. Muitos países têm um lado ideal que querem apresentar ao mundo, ainda que, tantas vezes, tenham sido erguidos sobre uma história de violência que se busca esquecer. Lutamos com essa contradição central nos EUA. Somos um país construído sobre liberdade, democracia e igualdade, mas também sobre genocídio, escravidão e guerra.
Hoje se vive em meio a uma ansiedade que, fora os problemas do racismo, é alimentada pelo medo dos imigrantes e dos refugiados. Só que esses imigrantes e refugiados são produzidos a partir das nossas contradições enquanto nação. É por isso que a minha história pessoal tem sido importante. Sou um refugiado da Guerra do Vietnã. Eu não estaria nos EUA se não fosse por essa guerra, que, na minha leitura, nasce dessa contradição central da história americana.
Há uma tendência de culpar o refugiado ou o imigrante pela “crise”. Mas, no meu trabalho, gosto de dizer que o refugiado não oferece uma crise, mas um desafio, porque ele desafia essa contradição interna. Quando olho para os refugiados, o que eu vejo é que nós somos o problema. O nosso capitalismo, o nosso consumismo, o nosso militarismo produziram essas catástrofes. Devemos, então, tratar os refugiados como um problema ou pensar neles como uma oportunidade que também permitiria nos transformar? Se vivêssemos em um mundo que não produzisse refugiados, todos nós estaríamos num lugar melhor.
Sua vivência como refugiado é a principal matéria-prima do seu trabalho como escritor?
Bem, acho que a matéria-prima do meu trabalho sempre nasce da dor. Gostaria de conhecer escritores que não tiveram infâncias dolorosas assim. O que quero dizer é que devo tirar o cerne das minhas histórias das emoções e sentimentos que carrego dentro de mim. Sentimentos que nascem dos traumas da guerra, da experiência dos refugiados, de viver como uma pessoa de cor nos EUA. Todo esse conflito, toda essa tensão está nos meus romances. O protagonista, claro, não sou eu, mas muitas vezes as ideias dele saem de mim.
Mas, para pegar essa matéria-prima toda e torná-la interessante aos leitores, é preciso construir enredos, personagens e assim por diante. Então, é óbvio que, para esses livros, devo muito à ficção policial e de espionagem e às histórias de detetive. Porque elas são divertidas. Eu li muitas delas. E elas são interessantes porque podem trabalhar também questões políticas e históricas. Uma das premissas centrais de todos esses gêneros literários é que o crime fisga o leitor por envolver algo perigoso e emocionante. Mas, no melhor desse tipo de ficção, o crime individual também aponta para um crime sistêmico. Esse é o ponto-chave.
Pensando nisso, quais são suas grandes influências literárias?
As maiores influências para mim são escritores como Graham Greene e John le Carré. Eles estavam escrevendo sobre indivíduos e circunstâncias individuais, mas sempre apontando também para um contexto geopolítico mais amplo, para os problemas do seu tempo. Então me baseio nesses autores porque eu queria o poder de um gênero que atraísse os leitores, mas sem abrir mão, como vemos presentes em suas obras, de dilemas morais, existenciais e políticos que ocupam a chamada alta literatura.
Veja, Dostoiévski é uma grande influência para mim, por exemplo. Ele também lida com o crime, com a moral, com a política em alto nível. Me interesso por esses escritores capazes de trabalhar essas questões com sofisticação literária. Então eu poderia citar outras influências, vindas de escritores europeus, como Louis-Ferdinand Céline e Voltaire, assim como de autores americanos, como Toni Morrison, Ralph Ellison, William Faulkner ou Herman Melville. Sim, é uma panóplia de escritores, entre altos e baixos [do ponto de vista literário].
Incomoda o fato de rotularem seus livros como thriller?
Não, não é um problema para mim. Gosto de argumentar que, sim, são romances de espionagem, mas também sobre um monte de outras coisas. E, no fundo, quero que os leitores se divirtam também. Claro, o que define entretenimento é muito subjetivo…
Sabe, outro escritor muito importante para mim foi Vladimir Nabokov. Uma das frases mais famosas do seu romance Lolita é a que de você sempre pode identificar um assassino pelo seu estilo de prosa. Então esse foi um dos pontos que guiaram O Simpatizante e O Comprometido. Estamos diante de um espião, de uma pessoa perigosa, tentando se disfarçar para si mesmo e o leitor. E uma das maneiras pelas quais ele lida com isso está nesse trabalho com a linguagem.
Nos escritores de suspense, em geral a prosa deve ser transparente, pois o foco está no enredo. Mas autores como John le Carré e Grahan Greene elevaram o estilo. Eu gosto desse trabalho com a linguagem, do jogo de palavras. E os leitores gostam dos livros também por encontrar prazer nesses jogos de linguagem.
Seus romances têm trechos hilários… Qual é o papel do humor em suas narrativas?
De novo, é a diversão. Eu me divirto muito escrevendo romances, mesmo que eles tratem também de coisas violentas e terríveis. No fundo, os livros funcionam como uma sátira. Não estamos lidando apenas com crimes individuais, com um traficante de drogas lá na esquina. Mas também com crimes de Estado. Por exemplo: os franceses foram os maiores produtores de ópio e traficantes de drogas na Indochina. O governo francês estava envolvido nisso. Beira o absurdo pensar que os franceses, com seus ideais de democracia e revolução, estivessem traficando drogas. Então decidi fazer uma abordagem satírica desses crimes, porque o humor é uma grande arma política.
E o humor também é uma técnica de sobrevivência importante. Você tem que ser capaz de fazer piadas para sobreviver aos traumas do dia a dia. E, na literatura, as piadas ajudam a aliviar as coisas terríveis que podem estar acontecendo numa história. Posso voltar a Shakespeare. Mesmo em suas tragédias, ele fazia piadas ou criava algumas subtramas cômicas.
Seu livro O Simpatizante foi adaptado para uma série de TV. Acha que esse movimento ajuda a recrutar mais leitores? Como encorajar a leitura em tempos dominados por telas?
Bem, acho que não há dúvida de que lá no século XIX as pessoas liam mais. Nada competia com os romances como forma de entretenimento. E nunca conseguiremos ter isso de volta no século XXI. Não há dúvida de que filmes, programas de TV e videogames são hoje muito mais importantes para a maioria das pessoas. No entanto, ainda se lê. Lê-se literatura de todos os tipos, da mais popular à mais difícil, ainda que talvez num percentual menor que no passado.
Em vez de simplesmente lamentarmos o fato de que a literatura não é mais tão atrativa para o grande público como filmes e séries, acho que deveríamos nos concentrar no fato de que os livros mantêm sua relevância, e os escritores continuam contando histórias que as pessoas querem ler. As pessoas reconhecem a importância fundamental da literatura. Tanto é que inúmeros seriados e até videogames são produzidos com base em romances.
Mesmo em um meio onde se investem milhões de dólares para fazer um filme ou um game, as pessoas ainda recorrem aos livros para encontrar boas histórias. Foi assim que O Simpatizante virou série de TV. E isso aconteceu porque, em primeiro lugar, espero que seja uma boa história, mas também porque o livro ganhou um prêmio Pulitzer, e isso chama atenção. Devemos ser realistas sobre onde a literatura se enquadra nesse universo mais amplo de produção e consumo de histórias, mas não podemos subestimar a importância e o prestígio atribuídos a ela.
Gostou da série baseada no seu livro?
Sim, acho a série de TV muito boa. Acredito que foi essencial escolher os colaboradores certos para fazer a série, a começar por Park Chan-wook, o diretor. Ele e sua equipe fizeram uma série muito fiel ao livro, ao entretenimento da história, ao humor e às questões políticas tratadas ali. É uma criação única em comparação com outros seriados que se limitam ao puro entretenimento.
O que pode adiantar do terceiro e último livro da trilogia?
Bem, o terceiro romance começa exatamente onde termina o segundo, que se passa em Paris, quando o agente da CIA, interpretado na série por Robert Downey Jr, retorna. Se passa na década de 1980, durante o período de governo de Ronald Reagan, em meio aos conflitos da Guerra Fria. Nosso protagonista volta aos EUA, onde deve expiar seus pecados. Ele terá de buscar reconciliação, mas também irá buscar vingança. É o que vai acontecer…



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA
Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo
Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia TV da Indonésia impõe um último descaso a Juliana Marins após a morte
TV da Indonésia impõe um último descaso a Juliana Marins após a morte