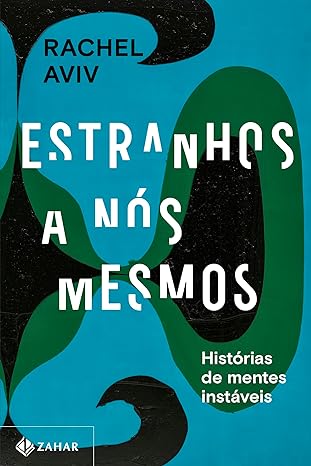O que rótulos e narrativas têm a dizer sobre o sofrimento mental
Em livro que mescla experiências próprias e histórias de pacientes com transtornos psíquicos, autora reflete sobre o que está por trás de um diagnóstico

A jornalista americana Rachel Aviv pode falar sobre o diagnóstico e o tratamento de um transtorno psiquiátrico em primeira pessoa. Quando criança, aos 6 anos, chegou a ser internada em um hospital para tratar uma suposta anorexia nervosa – quadro em que a pessoa tem uma visão distorcida do corpo e se nega a comer, por exemplo. Essa temporada sob suporte médico, ainda que tal condição esteja longe de ser algo comum na infância, marcou a trajetória da escritora, incutindo nela a ideia de entender melhor o que está por trás (ou no entorno) de um diagnóstico.
Partindo de sua própria história, Rachel escavou a vida de personagens que, em comum, enfrentaram um profundo sofrimento psíquico e a experiência de se verem rotulados e apartados de uma existência “normal” aos olhos da medicina e da sociedade. Pessoas de origens e currículos distintos, mas que, em determinado momento, foram expostas ou aprisionadas por quadros classificados como esquizofrenia ou depressão.
O mergulho nessas biografias, muito além do diagnóstico e do tratamento prescrito, e as reflexões que permeiam cada uma delas fazem com que Estranhos a Nós Mesmos, recém-publicado pela Zahar, não seja apenas mais um livro sobre saúde mental.
Estamos diante de uma obra que, sem pesar a mão em discussões técnicas, questiona rótulos, explora o papel (inclusive terapêutico) das narrativas que montamos e contamos a nós e aos outros e retrata quão complexa é essa relação entre o cérebro humano e a comunidade que acolhe ou repele suas instabilidades.
Com a palavra, a autora.
Seu livro trata dos desafios de rotular ou dar nomes ao sofrimento mental. Depois de suas experiências pessoais e pesquisas na área, avalia que essa abordagem está mais para positiva ou negativa sob a perspectiva dos pacientes?
Eu acredito que algumas vezes o diagnóstico ou o rótulo de um transtorno mental pode ser muito libertador e terapêutico. Isso pode superar o sentimento de solidão de uma pessoa, a ideia de que ela é a única passando por essas coisas. Em outros casos, no entanto, o diagnóstico pode ter um efeito restritivo, como uma profecia auto-realizável, como se o paciente estivesse sendo informado de que seu potencial e futuro serão limitados. No livro, eu coloco nesses termos: “Há histórias que nos salvam e histórias que nos prendem, e, no meio de uma doença, pode ser muito difícil saber qual é qual”.
Não estou advogando a favor ou contra diagnósticos em particular. O que eu defendo é uma maior conscientização sobre a forma como diagnósticos podem afetar nossas identidades. Tendemos a pensar em um diagnóstico como algo neutro, como um espelho que meramente reflete a realidade tal qual ela é. Mas, às vezes, ele faz mais do que isso: ele pode alterar a realidade também, mudando nosso entendimento sobre nós mesmos e quem podemos ser.
+ VEJA TAMBÉM: Romances fazem imersão na saúde mental feminina
Lendo Estranhos a Nós Mesmos, fica evidente o papel das narrativas como algo capaz de ajudar a lidar com o sofrimento emocional. Como desenvolver esse recurso em tempos tão apressados, nos quais tantas vezes médicos e pacientes preferem optar por um comprimido?
O método ou abordagem de tratamento que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Às vezes indivíduos dão sentido à sua condição de formas que não são cientificamente corretas, mas capazes de trazer à sua vida entendimento e estabilidade. Pela maneira que estruturei o livro, tentei expressar que não existe uma única explicação para o sofrimento, o que sugere que precisamos ser ainda mais humildes. Entender qual tratamento funciona melhor para cada pessoa requer uma compreensão ainda maior de sua vida e de sua comunidade.
Você também fala de quão complexa é nossa relação com medicamentos para fins psiquiátricos. O que mais a preocupa hoje nessa dependência por antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e afins?
Acredito que a gente tende a ignorar vários fatores sociais envolvidos na prescrição desses medicamentos. Eles podem salvar vidas, claro, mas existem complexos fatores socioeconômicos que influenciam para quem são administrados esses comprimidos e por quê. No livro, escrevo sobre duas pessoas que ocupam posições sociais quase opostas.
Laura é uma mulher rica e privilegiada de Greenwich, Connecticut, que frequentou a Universidade Harvard e procurou um psiquiatra com queixas de depressão. A ela foram prescritos cada vez mais medicamentos, instrumentos precisos que, em sua visão, teriam como alvo tudo que estivesse errado em sua vida. Ouvir que seu problema era biológico teve um efeito libertador para ela – tirou seu sentimento de culpa.
Em outro capítulo, vemos uma situação praticamente oposta: Naomi cresceu na pobreza, testemunhou muita morte e violência, vivenciou discriminação racial e sua família foi dividida por agências de proteção à infância. Quando ela chegou aos psiquiatras, lhe foi dito que estava sofrendo em função de um transtorno bipolar. Mas isso não lhe soou libertador, como ocorreu com Laura. O diagnóstico de Naomi veio invalidar e diminuir todos os fatores reais de estresse – e suas interpretações a respeito deles – que a levaram a um estado de crise e profunda angústia.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO