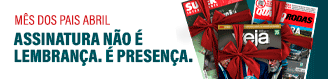China e mundo pós-ocidental flertam com a autocracia
No Ocidente não são inaudíveis as vozes que bradam por menos oxigênio democrático e pela contestação do que se pode chamar de “sociedade aberta”

Marcos Troyjo
Uma das principais características da fase de “desglobalização” que ganhou força em anos recentes é o que poderíamos chamar de “fim do fim da História”.
Na conhecida formulação do cientista político Francis Fukuyama, que escrevia no alvorecer do pós-Guerra Fria que inaugurou período de “globalização profunda”, a economia de mercado e democracia representativa emergiam vitoriosas.
A primeira se mostrava mais eficiente na alocação de recursos e geração de prosperidade se contrastada ao planejamento burocrático que funcionou no espaço de influência do comunismo soviético. A segunda, mais afeita a ideia de “accountability” que supostamente deve parametrizar a relação entre governantes e governados.
Nesse quadro, vale ressaltar que se pode definir o que significa “Ocidente” de várias maneiras. A mais abrangente ─ e minha preferida ─ é a que expressa o conceito com um fórmula matematicamente singela: Ocidente equivale a soma de economia de mercado e de democracia representativa.
Se é assim, então, a visão de mundo “pós-ocidental” ganhou novo reforço no último domingo, quando o Partido Comunista Chinês anunciou sua decisão de não mais restringir o teto de permanência de um indivíduo na condição de presidente do país.
Isso permite a Xi Jinping, ao contrário de seus antecessores nas últimas quatro décadas, evitar o limite de dois mandatos de cinco anos de duração no cargo mais importante da China.
A medida pode ser considerada pós-ocidental de diferentes ângulos. Ainda que mediante mecanismo políticos distintos, a China junta-se a um grupo de países que possibilitam a consolidação de autocracias. Vêm à mente os casos de Vladimir Putin na Rússia, Bashar al-Assad na Síria, Recep Tayyip Erdogan da Turquia ou Nursultan Nazarbayev no Cazaquistão.
Todos esses países têm em comum a noção de que a democracia ocidental é crescentemente disfuncional e confusa. Esse sentimento é particularmente presente na China, onde diferentes atores sociais ─ nos negócios ou nas Forças Armadas, na política ou na academia ─ parecem abominar o que consideram a ineficiência caótica da democracia.
Na China, a recente decisão parece tão mais acertada num contexto global de marcada ascensão do país ─ política e militar, é claro, mas sobretudo econômica. Arremetida que permite a China ocupar espaço cada vez mais central no desenho de uma família de instituições e projetos que não tem que ver com a ordem estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial, da qual os EUA foram os grandes arquitetos.
O argumento agora é de que Xi Jinping precisa de ainda mais poder e estabilidade para continuar a promover reformas. Há algum tempo observadores ocidentais otimistas acreditavam que isso significaria liberalização política no país ─ e de que a “a China ficaria mais parecida com o mundo”.
Bem ao contrário, são inúmeros os países em desenvolvimento que admiram, emulam ─ ou gostariam de emular ─ a oligarquia chinesa. E mesmo no Ocidente não são inaudíveis as vozes que bradam por menos oxigênio democrático e pela contestação do que se pode chamar de “sociedade aberta”. Nessa etapa pós-ocidental das relações internacionais, a tentação autocrática é grande. Tendo o que acontece em Pequim como referência, o risco é de que “o mundo fique mais parecido com a China”.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Cristiano Ronaldo pede namorada em casamento com anel milionário
Cristiano Ronaldo pede namorada em casamento com anel milionário Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação em SP
Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação em SP Dia 15 de agosto é feriado? Confira as capitais que celebram a data
Dia 15 de agosto é feriado? Confira as capitais que celebram a data O que se sabe até agora sobre o estado de saúde de Faustão
O que se sabe até agora sobre o estado de saúde de Faustão Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horários e escalações
Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horários e escalações