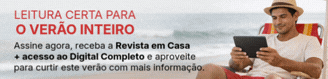Beco sem saída
Um homem veio descendo por ele. Trazia um resto de cigarro pendurado no canto da boca, deixando um pequeno rastro de fumaça pelo caminho

Heraldo Palmeira
Era mais uma véspera de Natal. Vacilei, entretido em ler algumas coisas e rabiscar outras e, quando voltei ao mundo, o dia já beirava as três da tarde. Eu não tinha almoçado e estava com fome a granel.
Entrei no carro e saí pelas redondezas, no bairro cheio de restaurantes. Parece que estava combinado, todos com a plaquinha “Fechado”. O meu melhor espírito natalino, mesmo levando em conta os funcionários que tinham suas famílias e o direito de comemorar o Natal, foi se desgastando e virando irritação quase incontrolável a cada nova plaquinha na porta. A fome é mesmo algo irracional, ainda mais quando passa da hora.
Rodando apressado sobre mais um tanto de avenidas virando ruas, ruelas e becos, veio o estalo da memória: sim, havia o velho mercado, decadente, com aqueles pés-sujos de comida insuperável, simples, direta, sem qualquer firula, iguarias inegáveis. Quem sabe?
Fui chegando acelerado, pelos fundos, e já parei o jipe de ré, na posição de não perder tempo caso tivesse de sair à toda de novo em busca de comida. A fome é irracional, mas mantém algum tirocínio quando age em interesse próprio.
Quase todas as espeluncas estavam fechadas. Restava uma, a redentora! Uma mesa e duas cadeiras apenas, de plástico, instaladas no meio do corredor do mercado. Dois bêbados sentados. Um traçando pedaços esgarçados de frango, outro lutando contra os cochilos cada vez mais vitoriosos na luta de ficar balbuciando uma conversa sem importância.
Calor infernal, cerveja quente nos copos, perfeita sintonia com vidas trançadas por pobrezas, fatalidades, desesperanças. Pelo abandono visceral.
O comilão me saudou com respeito, o “doutor” inevitável. Tentou ser gentil e buscar mesa e cadeira para mim, numa pilha já arrumada para a hora de fechar a birosca; desistiu diante da dificuldade de levantar. Mas deu ordens no terreiro com voz embargada de álcool dirigida ao taberneiro. Agradeci a gentileza e baixei a cabeça, não havia a menor chance de encompridar conversa.
O homem seguiu zombando do cochilo do outro, em gritos controlados pelo taberneiro com a ameaça de suspender os serviços da mesa.
Em pouco tempo, o carneiro ao molho e milhares de acompanhamentos desceram sobre minha mesa. Eu não tive dúvida de que aquilo era um manjar dos deuses! Fiquei sem saber se era efeito da fome irracional ou se estava diante de algum inesperado milagre de Natal.
Um cachorro vadio, de estimação do taberneiro e associado pelas cores ao seu time de coração, foi encostando sorrateiro como convém aos cães vadios. O faro apurado indicava que restos apetitosos poderiam cair ao chão por simpatia dos comensais. E o taberneiro ralhou com o comilão quando ele jogou ossos de frango. “Isso fura o bicho por dentro!”, gritou enraivecido.
O comilão chegara àquela fase de embriaguez em que a boca entorta e os olhos piscam em desacordo, cada um num tempo, e resmungou alguma coisa incompreensível. Pelo menos estava concordando, não deu mais ossos de frango, limitou-se a sujar o chão com arroz e feijão derramados na direção do animal.
Olhei para o fim do corredor do mercado. Logo além do portão havia um largo arborizado e calmo, que terminava num beco estreito que ia ficando ainda mais apertado e íngreme. Alguns homens sentados na calçada sem ter o que fazer pareciam conversar, quase no ponto em que a vista não conseguia dobrar junto com o trajeto. E o que havia dacolá em diante se perdia na impossibilidade de ser visto.
Um pouco antes daquele ponto da curva dos homens sentados sem ter o que fazer, uma mulher, que na passagem cumprimentara o taberneiro com intimidade, chegava em casa depois do trabalho — havia trazido algumas amostras da ceia que acabara de preparar na casa da patroa e confidenciara que a noite de Natal por lá prometia.
O taberneiro quis saber por que ela não ficara para a festa dos ricos. “Não é festa pra mim, homem. Meu presente ia ser uma pilha de louça suja”. Sábia sabedoria do cotidiano.
Quando a mulher foi saindo devagar, ele ficou acompanhando o movimento dos quadris como quem conhecia a intimidade daqueles passos. Teve a dignidade de não dizer palavra.
Um homem veio descendo, tão esquálido quanto o beco. Trazia um resto de cigarro pendurado no canto da boca, deixando um pequeno rastro de fumaça pelo caminho. Era profissional do tabaco, sequer usava as mãos para o ritual de fumar. O cão vadio correu para lhe cercar, demonstrando alegria. Recebeu um leve aceno e veio ao redor, abanando o rabo.
Resolvi imaginar que aquele homem nunca havia entrado num cinema e visto a mise-en-scène do manuseio calculado dos cigarros ensinada nos filmes, a peso de ouro para a indústria do tabaco. Ou, por certo, ele adotaria a coreografia enfumaçada dos galãs de Hollywood, teria boas razões para copiar a bossa.
Parou respeitoso encostado no balcão, falando baixo, e comprou cigarros vagabundos no retalho. Meia dúzia. Pediu uma coxinha e um copo daqueles sucos feitos de qualquer jeito. Imaginei que era seu almoço. Comeu em pé, sem muita demora.
O taberneiro falou com orgulho sobre estar trabalhando naquele dia. “Pra mim é um dia comum!”, alardeou. O homem fez um ar de riso sem convicção e respondeu que não tinha nada programado para a noite de Natal, iria dar um giro e ver se encontrava alguma coisa.
Pagou tudo com algumas moedas catadas a custo no bolso da calça, surrada como ele mesmo, e foi embora devagar passando por dentro do mercado, até sair na avenida principal e sumir na incerteza do dia que ia virar noite de Natal.
O taberneiro contou, sem eu perguntar, que aquele homem era biscateiro no entreposto de hortifrutigranjeiros que abastecia a cidade. Vivia uma vida difícil, solitário e caladão, mas era boa gente. “Acho que ele anda adoentado”, completou.
Incapaz de controlar a língua, aproveitou meu silêncio como senha para perguntar o que eu fazia e se ainda estava trabalhando naquele dia especial. “Sou contador, estou terminando uma auditoria para um cliente”, menti. Fui certeiro, não havia a menor chance de prosperar uma conversa em bases fiscais num ambiente de negócio informal como aquele.
Ainda insistiu, revelando que os dois bêbados eram operários da construção civil. Eu aquiesci com um leve aceno de cabeça, sem levantar os olhos. Enfim, o silêncio que eu queria apareceu soberano.
O comilão que tripudiara do amigo agora também dormia a sono solto, a cabeça pendida sobre a parede ao lado do balcão. O cão vadio deitou aos pés dele, talvez orientado pelo registro daquele osso de frango na memória da sobrevivência. Continuou ignorando o arroz e o feijão espalhados pelo chão.
Paguei uma ninharia por aquilo tudo. O taberneiro praticamente me intimou a voltar no dia seguinte. Foi insistente. Fiquei na dúvida se queria manter o cliente ou tentar descobrir algo mais a meu respeito — dera inúmeros sinais de que adorava a vida alheia. Prometi, para encerrar a prosa. Quem sabe, um dia, numa emergência da fome…
À noite, a caminho da ceia programada pela família, passei por uma grande avenida. Havia um quiosque num terreno baldio, lugar com cara de lugar nenhum, onde pessoas foram apenas chegando por ajuntamento em busca de uma noite de Natal não programada. Mesmo na pressa do trânsito tive quase certeza de ter visto o homem solitário, caladão, que comprou meia dúzia de cigarros vagabundos no retalho. Ele caminhara um bocado em busca de um lampejo na escuridão.
Com lápis invisível
Descrevo na escuridão
O que não vejo
A viagem tinha sido tranquila e eu estava num quarto enorme de hotel em Buenos Aires, com uma lua humilhante aparecendo na janela, espalhada sobre a cidade no infinito limitado ao alcance da vista.
Saí algum tempo depois para encontrar um casal de amigos argentinos, íamos a uma casa de tango de verdade, nada daquelas pantomimas montadas para turistas onde até cavalos aparecem no palco.
A casa de tango era pequena, a orquestra soberba. A plateia podia pedir músicas, que iam sendo inseridas no repertório. Arrisquei Libertango.
Súbito, o velho maestro perguntou quem havia feito aquele pedido. Levantei a mão timidamente, quase me desculpando. Quis saber de onde eu era, fiquei com a impressão de ser o único estrangeiro naquela noite.
Ele foi encantador ao me cumprimentar pela escolha, disse que era uma música complexa e belíssima, uma peça genial que poucos músicos ao redor do mundo se arriscam a tocar — inclusive nas casas de tango de Buenos Aires. Por fim, falou com enlevo de Piazzolla e ainda me agradeceu por fazê-lo lembrar do amigo.
Eu estava numa das primeiras mesas, perto demais. Contrariando meu temperamento reservado, não resisti, dei três passos e fui até diante do palco, me curvei perante o maestro. Ele me estendeu a mão. Nossas quatro mãos entrelaçadas transmitiram o que sentimos pela música. Penso que os aplausos soaram respeitosamente para concordar.
O tango começou sem meias-palavras, ferino, ferindo na carne. A melodia, o ímpeto, o drama… Não sei de onde aquele homem solitário, caladão, que comprou meia dúzia de cigarros vagabundos no retalho surgiu na minha mente.
Talvez porque sua vida fosse aquele tango nu e cru, que não foi concebido para entreter quem está na vida a passeio. Que era arrebatador para quem pisava ruelas e becos, para quem formara calos no piso irregular da estrada.
Comecei a enxergar o homem esquálido que desceu o beco estreito retratado nos traços magros e marcados do dançarino, que saracoteava sobre o palco dentro do terno risca-de-giz sob a luz dramática, debaixo daquele chapéu antigo, deslizando nos sapatos luzidios como se pudesse flutuar.
Imaginei-o tentando encaixar o amor que doía e suas marcas de desilusão nos movimentos da dançarina linda com aquela flor vermelha no cabelo negro, nas suas curvas perigosíssimas, na fenda preciosa do vestido, talhada para ora estimular ora dissimular os desejos mais secretos.
Vi a paixão e o medo duelando sem piedade em cada passo, naquele jogo de tentativas de fugir e de impedir. Vi a coreografia de um amor que não se deixa amar. Vi os dois esgotados, abraçados numa réstia fugidia do escuro do palco, com a morte decretada pelo fim sem reconciliação, e a dor para o resto da vida.
Sob o peso da noite
E do vinho amargo
Bati à porta da treva
E gritei o teu nome
Mas nada ouvi senão ecos
A fulminar a memória
Alguém chora
Mas não há lágrimas
Exceto vagalumes
Náufragos aéreos
Que à deriva espalham luzes
Do éden perdido
A música parou a dança, aplausos desmoronando de pé. A luz acendeu o fim sem direito a bis, a plateia — imóvel — de náufragos aéreos tal vagalumes à deriva, espalhando luzes do Éden que se perdeu no acorde final, no passo que parou a dança que não foi feita para parar.
O velho maestro me dirigiu levemente a batuta entre as duas mãos como uma dádiva, nota aguda além da partitura, último aceno encantador. Como que me abrindo os olhos, me dando respostas. Como se tivesse enxergado o homem solitário, caladão, que desceu o beco estreito, comprou meia dúzia de cigarros vagabundos no retalho naquele mercado decadente e que eu jurava ter visto festejando o Natal num lugar com cara de lugar nenhum.
Não! Definitivamente, aquele homem, àquela noite, à beira da avenida que levava à minha ceia de Natal, não estava à procura de Papai Noel. A Lapônia era um lugar banal demais para quem, por força daquele destino, tinha a vida traduzida num tango argentino. Um canto torto, feito faca. Algo bem além do blues, bem mais dissonante do que renas e trenós.
Trechos de:
Pão e luz (Horácio Paiva)
Sete elegias de um ano findo (Horácio Paiva)
Inspirações incidentais:
A palo seco (Belchior)



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO