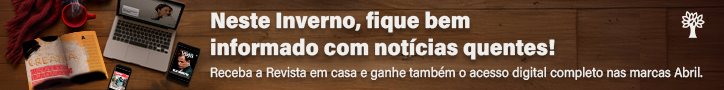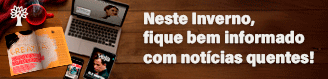Alisson não é jogador da Islândia
Um nome revela muitas coisas, mas para isso é preciso, como no caso do petróleo e das verdades ocultas, fazer prospecções

Deonísio da Silva
O goleiro da seleção brasileira, já convidado para ser modelo, chama-se Alisson, um nome escandinavo. Todos os jogadores da Islândia têm este “son” nos respectivos nomes.
A presença europeia fica ainda mais evidente no nome completo de nosso goleiro: Alisson Ramses Becker. Parece nome de faraó alemão, mas é nome de brasileiro.
Ainda que raro quanto aos dois prenomes e um pouco mais comum no sobrenome, é bem condizente com a miscigenação do Brasil meridional, onde, sobretudo, descendentes de portugueses, espanhóis, alemães, italianos e poloneses se fazem presentes nos estádios, tornando-se maioria em face daqueles que mostram no rosto sinais de outras heranças genéticas, como as indígenas e as africanas.
Nosso país é um dos mais misturados do mundo em questões de etnias e de culturas. A curiosidade adicional no nome do goleiro é que ele tem ainda um tradicional sobrenome de origem europeia: “son” indica sobrenome na cultura escandinava.
Uma das traduções mais literais para Alisson é “filho da Alice”. É nome é também feminino, mas no Brasil é preferencialmente de meninos.
Este “son” é indício dos primeiros sobrenomes, uma necessidade surgida quando o nome já não era suficiente para identificar o indivíduo. O recurso utilizado foi qualificá-lo como “filho” de alguém conhecido da comunidade por aquele nome. O nosso “júnior”, embora restrito ao filho que tenha o mesmo nome do pai, é exemplo do uso deste “son” em outras culturas.
Assim, o filho de Gustavo virou Gustafson, o filho de John tornou-se Johnson. Também na cultura de outros povos, não apenas europeus, o costume era este, ampliado depois com a inclusão do local ou região de nascimento e a profissão.
Somos filhos da Roma Antiga, que também começou a identificar as pessoas com apenas um nome, mas depois chegou a ter quatro ou cinco nomes, tornando o nome prenome.
Todavia, o comum eram três. Assim, César, o famoso estadista e general, chamava-se Caio Júlio César. Seu sucessor, entretanto, o imperador Otávio, recebeu dois nomes ao nascer, Caio Otávio, mas ao morrer tinha cinco, pois acrescentara outros três: Caio Júlio César Otaviano Augusto.
Nos países católicos, o sobrenome passou a ser obrigatório apenas no século XVI, por decisão tomada no Concílio de Trento.
No caso do Brasil, onde durante muitos séculos, apenas a Igreja cuidou da documentação dos brasileiros. A certidão de batismo e a certidão de casamento às vezes eram os únicos documentos do indivíduo pela vida afora, com uma característica muito importante: ao casar, a mulher acrescentava o sobrenome do marido ao seu.
Os filhos passavam a ser batizados apenas com o sobrenome do pai, mas aos poucos foi incorporado também o sobrenome da mãe. Sofia, filha de João da Silva e de Maria dos Santos, chamava-se então Sofia da Silva ou Sofia Santos da Silva.
O sobrenome do pai era sempre o último. Diante da explosão de nomes iguais ou muito semelhantes, os nordestinos passaram a inventar os prenomes, compondo-os com sílabas tiradas de diversos nomes e criando assim identificações muito originais.
“O que há num nome?”, pergunta Shakespeare, acrescentando: “aquilo que chamamos rosa teria bom perfume também com outro nome”.
O nome, a primeira coisa que o indivíduo não escolhe, revela muitas coisas, mas para isso é preciso, como no caso do petróleo e das verdades ocultas, fazer prospecções.
*Deonísio da Silva
Diretor do Instituto da Palavra & Professor
Titular Visitante da Universidade Estácio de Sá
https://portal.estacio.br/instituto-da-palavra



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet
Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista
Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia