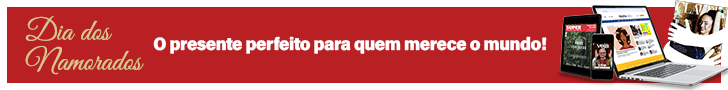A polêmica em torno do projeto de restauração de uma das pirâmides de Gizé
Caso desperta revolta de especialistas que acusam governo egípcio de inventar um novo passado para girar a roda do turismo

Houve pompa e circunstância, em 1837, quando arqueólogos ingleses identificaram numa das antecâmaras da menor das três pirâmides do planalto de Gizé, nas cercanias do Cairo, o sarcófago do faraó Miquerinos, que governou o Egito durante apenas vinte anos, entre 2520 a.C. e 2500 a.C., e que batizava a edificação. Depois, no ano seguinte, houve drama e consternação com a notícia de que o navio que levava o tesouro surrupiado para o Museu Britânico de Londres afundara no Mar Mediterrâneo. Agora, a menor das três míticas construções à beira do deserto, de 62 metros de altura — Quéfren tem 136 metros, e Quéops, 138 metros — vive uma terceira onda, de espanto e controvérsia, no avesso de sua discrição milenar. Em janeiro, o governo do ditador Abdul Fatah Al-Sisi anunciou o início da restauração da fachada do monumento de calcário com um detalhe que soou como anátema para os especialistas em preservação do patrimônio histórico: a ideia seria reinstalar os blocos de granito que teriam caído aos pés da obra, em virtude da ação do tempo e, mais recentemente, de um terremoto que balançou o chão em 1992. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, a autarquia responsável pela proteção das joias arquitetônicas, publicou nas redes sociais um vídeo com a proposta e a defesa de seu plano de engenharia — Miquerinos seria a única, entre suas irmãs, a ostentar, na origem, as rochas de tonalidade quase sempre clara. Tratava-se, portanto, de recolocá-las ali onde estiveram. “O restauro é um presente do Egito para o mundo”, disse Mostafa Waziri, secretário-geral do conselho mandachuva.
Não demorou para que os egípcios especialistas considerassem o anúncio um presente de grego. Um provocador comparou a iniciativa a endireitar a Torre de Pisa. Outro, com algum exagero retórico, disse ser o primeiro passo para fazer da região de Gizé uma Disneylândia de mau gosto, deslocada e constrangedora. Para os acadêmicos que criticam o movimento oficial, é impossível estabelecer a posição original dos blocos — e há controvérsia incontornável em relação à origem dos fragmentos. A hipótese mais provável é a de que o material teria sido abandonado antes do fim dos trabalhos, inacabados com a morte prematura do faraó.

Outra tese é a de que os pedaços do rígido mineral tenham sido utilizados para erguer túmulos na vizinhança. Um grupo de cientistas sustenta que uma das reais intenções da iniciativa é impulsionar, na marra, ao recriar um passado inexistente, a roda do turismo, responsável por 10% da economia do Egito, fragilizada depois da pandemia. Um comitê do qual faz parte o ministro do Turismo se opôs por unanimidade à reinstalação do granito, em documento que hoje repousa como batata quente nas mãos da ditadura. A Unesco, a agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, também entrou na briga e pediu mais informações às autoridades, que se recusaram a detalhar o projeto. “É inaceitável que esse tipo de teoria fantasiosa parta do chefe do Conselho Supremo de Antiguidades, cargo ocupado por alguns dos mais renomados arqueólogos egípcios ao longo do tempo”, disse a VEJA Monica Hanna, arqueóloga da Academia Árabe de Ciência, Tecnologia e Transporte Marítimo. Irritada, Hanna chegou a dizer que só faltaria anunciarem a colocação de azulejos no perfil da pirâmide, parte razoavelmente intacta de uma das maravilhas da Antiguidade.
A pressão pode vir a adiar a intervenção, dado ter se transformado em imbróglio de dimensões internacionais. Mas o bode está na sala, ao tirar o véu de aproveitamento político de Miquerinos, como já ocorreu em outros episódios. No ano passado, retroescavadeiras destruíram parte de uma necrópole árabe localizada nas Colinas de Mokattam, a Cidade dos Mortos, a sudeste do Cairo, para favorecer uma obra viária. Promotores públicos de Alexandria estão investigando, sob suspeita de interesses pecuniários e propina, a ação de uma empresa responsável pela restauração da mesquita de Abu al-Abbas al-Mursi, que passou tinta branca sobre os afrescos com motivos árabes, do século XV. “Com a paciência já quase esgotada pelo aprofundamento das péssimas condições de vida da população, o governo não precisa alimentar uma outra questão incendiária”, diz Shahira Amin, pesquisadora do Atlantic Council, laboratório de ideias americano.
É possível tirar uma lição de todo o ruído, ou duas: em arqueologia, não se pode ter pressa, porque sempre haverá o risco de destruir páginas da civilização. E é sempre melhor as ditaduras não mexerem com a inteligência humana, atropelando a ciência. O zelo com Miquerinos remete a um provérbio egípcio afeito a resumir toda a confusão, e não há general turrão que possa aboli-lo: “Todo mundo tem medo do tempo, mas o tempo tem medo das pirâmides”.
Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas