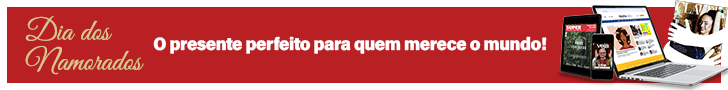“A ciência precisa chegar às padarias e botequins”, diz consultora da Nasa
Em visita a São Paulo a astrofísica brasileira Duília de Mello defendeu a necessidade da divulgação científica romper bolhas

A astrofísica brasileira Duília de Mello tem se dedicado nos últimos anos à missão de fazer com que a ciência chegue e ocupe espaços onde tradicionalmente não está presente. Uma das estratégias que tem empregado para atingir esse objetivo é tentar estabelecer parcerias com personalidades públicas e artistas que, na opinião dela, podem desempenhar o papel de porta-vozes dos cientistas.
A pesquisadora, que hoje está radicada nos Estados Unidos, onde atua como consultora da agência espacial norte-americana (Nasa) sobre educação, veio ao Brasil para participar da Escola Interdisciplinar FAPESP 2023 – Ciências Exatas e Naturais, Engenharias e Medicina. Um dos objetivos do encontro, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de novembro, foi oferecer a bolsistas de pós-doutorado de todo o país a oportunidade de conhecer a pesquisa desenvolvida por lideranças científicas do Brasil e do exterior, em várias áreas do conhecimento, bem como suas trajetórias acadêmicas.
Vice-reitora de estratégias globais e professora titular de física da Universidade Católica da América (CUA, na sigla em inglês), em Washington, nos Estados Unidos, Mello conta que uma das funções de seu trabalho é analisar e identificar países que poderão contribuir para suprir o declínio estimado no número de estudantes universitários no país em razão do envelhecimento da população norte-americana. Uma vez que o Brasil passa por um fenômeno de envelhecimento populacional semelhante, o país deveria começar a elaborar políticas de imigração para atrair estudantes universitários e pesquisadores principalmente de países lusófonos e da América Latina, avalia.
Integrante de missões que usam telescópios terrestres e espaciais, como o Hubble e o James Webb, para analisar as propriedades das galáxias, a pesquisadora fala sobre os projetos científicos em que está envolvida atualmente e sobre descobertas que podem ser feitas por meio de novas missões planejadas pela Nasa.
Conforme destacou o presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, na abertura da escola, tem sido observada uma queda mundial no interesse de jovens em seguir carreira científica. Esse fenômeno também é percebido em sua área (astrofísica), a despeito de ela despertar maior fascínio entre os jovens por ser muito retratada no cinema e em séries de ficção científica? Acho que esse fenômeno é mundial e está acontecendo em todas as áreas. Isso está relacionado, em parte, ao fato de que hoje há uma valorização muito grande do dinheiro e de o êxito na carreira e na vida pessoal estar pautado pelo quanto se é remunerado. E, quando começamos a falar sobre carreira científica para os jovens, eles avaliam que ela não é rentável financeiramente. Eles querem ir para algo que dê retorno financeiro mais imediato e que permita ganhar dinheiro. Na minha opinião, isso tem sido influenciado pelo fenômeno dos influenciadores da internet. Se você perguntar para um menino ou menina de 12 anos, por exemplo, o que eles querem ser quando crescer, há uma grande possibilidade de responderem que desejam ser influenciadores, que querem ter milhares de pessoas que os sigam para que consigam ter sucesso e obter dinheiro dessa forma. Isso se tornou um fenômeno mundial e é muito preocupante, principalmente porque, para ser um influenciador, seria preciso ter conhecimento em uma certa área ou talento para justificar ser seguido nas redes sociais. E geralmente não é isso que ocorre. Acho que está acontecendo uma banalização das profissões e isso é muito preocupante. Tenho pensado muito nisso e tentado motivar o jovem a procurar sua verdadeira vocação, ressaltando que, se a ciência for a real vocação dele, que ele a siga, porque o dinheiro será consequência dessa escolha. Além disso, que ele tenha a consciência de que está tudo bem ser de classe média. Os cientistas, no mundo inteiro, são de classe média. De fato, o desinteresse dos jovens é um problema gravíssimo e tenho percebido isso não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas também na Europa e em outras partes do mundo. É necessário motivarmos os jovens a gostar de ciência e tecnologia e vislumbrar a possibilidade de desenvolver carreira nessas áreas.
Especialistas avaliam que esse fenômeno é especialmente preocupante e pode ter reflexos econômicos muito graves em países em desenvolvimento, como o Brasil, mas também em potências científicas, como os Estados Unidos, que são altamente dependentes da atração de talentos em ciência e tecnologia. Os efeitos desse fenômeno já são percebidos por lá? Os Estados Unidos passaram por um período muito complicado durante o governo [Donald] Trump. As relações internacionais do país, de forma geral, foram bastante afetadas durante os quatro anos de seu mandato. Também teve a pandemia de COVID-19 nesse período e é preciso dar um desconto. Mas, de qualquer modo, houve uma queda na migração de pesquisadores para o país. Isso está melhorando e os Estados Unidos já estão começando a voltar a ser atraentes para o mundo em termos de oportunidades de desenvolver carreiras científicas. Também já há uma procura maior de estudantes internacionais por universidades norte-americanas. Mas, de fato, houve um declínio nos últimos anos na atração tanto de estudantes como de talentos internacionais em ciência e tecnologia. O foco dos Estados Unidos também estava muito voltado para a China. Atualmente, tem diminuído e estão direcionando mais para a Índia. Hoje há muito mais estudantes indianos vindo para os Estados Unidos do que antes, pois a Índia começa a ter uma classe média maior e os jovens começam a imigrar mais. Também percebemos que há uma falta de interesse nas áreas de ciência e tecnologia, engenharia e matemática [STEM, na sigla em inglês] nos Estados Unidos, a exemplo do que vem acontecendo no mundo nos últimos anos, apesar de todo o incentivo dado durante o governo [Barack] Obama. Tem ocorrido outro fenômeno muito importante nos Estados Unidos, que deve afetar a formação interna de novos pesquisadores e que tem razões demográficas. Há menos estudantes nas escolas porque a população está mais velha. Isso causará um declínio de estudantes universitários no país. Sabemos disso e planejamos suprir essa queda com estudantes internacionais. Já estamos começando a analisar os países que fornecerão os estudantes para as universidades americanas. Isso faz parte do meu trabalho como vice-reitora de estratégias globais da universidade à qual estou vinculada. Um país na África, por exemplo, que tem uma tendência de aumento de imigração é a Nigéria. Provavelmente será o próximo país a apresentar maior imigração na África, principalmente para os Estados Unidos.
O Brasil também está passando por um fenômeno do envelhecimento semelhante, conforme indicam dados do Censo de 2022 divulgados recentemente pelo IBGE. Nesse sentido, o país também já deve começar a pensar em desenvolver políticas de imigração e a identificar potenciais países dos quais poderia atrair talentos em ciência e tecnologia? De fato, o Brasil precisa ter uma política de imigração e já começar a implementá-la. E o país tem uma vantagem enorme: há países lusófonos que apresentam taxas de crescimento de população. É preciso abrir migração para esses países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Precisamos começar e ter, cada vez mais, um papel importante nessa rede lusófona. Acho que é preciso abrir cátedras voltadas a esses países. Por que ainda não temos grandes cientistas moçambicanos, angolanos, atuando como professores no Brasil? Deveriam estimular isso. A gente tem uma identidade muito grande com esses países pela língua, que é o que nos une. E o Brasil pode atrair imigrantes tanto de países da África como os da América Latina. Nessa escola, inclusive, vimos a presença de pós-doutorandos da Colômbia, do Peru e da Bolívia, por exemplo. O Brasil pode ser uma potência regional e espero que os dirigentes vejam que o país precisa ter políticas públicas de imigração voltadas a esses países.
Um dos objetivos de escolas como esta promovida pela FAPESP ao selecionar pós-doutorandos de outros países é justamente mostrar as oportunidades de desenvolver carreira e fazer ciência de alto impacto em universidades e instituições de pesquisa sediadas em São Paulo. Além desse esforço regional, quais outras iniciativas a senhora avalia que devem ser implementadas pelo país em um nível mais amplo? Eu acho que o Brasil não é um país internacionalizado. Temos um problema muito sério que é o fato de estarmos situados muito na costa. Então, somos isolados até na própria América Latina. É preciso levarmos esses fatores em conta e tentar trazer mais pessoas para cá por meio da realização de grandes eventos. É preciso colocar o país no mapa internacional, mostrar que é uma potência. Sou muito favorável à ideia de aumentar a promoção da internacionalização do Brasil por meio da realização de grandes eventos, incluindo encontros educacionais. Existem, por exemplo, as olimpíadas de matemática, de física e de astronomia. O Brasil será sede da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica no ano que vem. Virá gente do mundo inteiro aqui fazer as provas no Rio de Janeiro. A FAPESP, que é uma potência no Estado de São Paulo, pode contribuir muito nessa missão de mostrar para o mundo que o Brasil é uma potência educacional. A língua é um problema, porque o português limita muito e não temos a tradição de ensinar em inglês. Eu, por exemplo, não consigo mandar estudantes americanos para cá porque as universidades, mesmo as maiores, não oferecem muitos cursos em inglês. Isso é um fator limitante para o Brasil que, mais uma vez, o deixa isolado.
Paralelamente ao fenômeno da diminuição do interesse dos jovens pela ciência temos assistido ao crescimento do negacionismo científico. Especialistas apontam que isso está relacionado à má formação educacional, mas vemos que esse parece não ser o único fator, uma vez que em países com sistemas educacionais melhores do que o brasileiro, como os Estados Unidos, esse movimento também está presente e é muito forte. Como a comunidade científica pode enfrentar isso? De fato, eu nunca pensei que um dia teria de explicar que a Terra não é plana (risos). Acho que uma das formas de se combater isso é ter mais cientistas fazendo divulgação científica. Geralmente, o cientista fica no laboratório, na universidade, e não expõe para a sociedade a essência do trabalho que faz. Na minha opinião isso é gravíssimo, porque, se as pessoas não sabem o que é um cientista e o que ele faz, consequentemente elas não acreditam na ciência. Na percepção delas fica parecendo que a ciência é uma coisa muito exótica, esotérica, restrita a pessoas que vestem jalecos brancos. As pessoas não se identificam com os cientistas e não acreditam neles se não os conhecem. Eu espero que a pandemia tenha mostrado aos cientistas no Brasil e no mundo a importância de explicarmos para a sociedade o que nós fazemos e a importância de todas as áreas da ciência, não só relacionadas ao desenvolvimento de vacinas. Temos de criar uma geração de pessoas que acreditem, apostem e gostem da ciência, mas que não necessariamente sejam cientistas. A gente não precisa de milhares e milhares de cientistas, muito menos de astrônomos. Mas necessitamos de uma sociedade que acredite e enxergue valor na ciência. Durante a pandemia de COVID-19, tivemos uma campanha intitulada “A ciência vai nos salvar” e, realmente, a ciência nos salvou. Agora está na hora de mostrarmos novamente para as pessoas que foi a ciência que nos salvou da pandemia e vai nos salvar novamente, agora, do aquecimento global. É o momento de sairmos dos nossos laboratórios, contar o que fazemos e estabelecer a confiança da sociedade na ciência.
A senhora tem se engajado bastante nesse campo da divulgação científica, desenvolvendo iniciativas voltadas, principalmente, para despertar o interesse de crianças e jovens pela ciência. Quais são suas motivações para realizar esse trabalho? É uma tentativa de sair das bolhas. Eu faço divulgação científica há 30 anos e acabei ganhando muita experiência nessa área. E é um talento fazer divulgação científica porque é preciso traduzir conceitos complexos em linguagem simples. É uma coisa que eu faço relativamente com facilidade por causa da experiência que adquiri, mas dá muito trabalho. Mas vejo, cada vez mais, que estamos fazendo divulgação científica dentro das nossas bolhas, para pessoas que já gostam de ciência, e isso está errado. A gente tem de entrar nas padarias e botequins do Brasil. A ciência tem de se tornar assunto corriqueiro, ocupar as páginas de jornais e ser capa de revista. Meus projetos de divulgação científica atualmente estão voltados para isso. Estou tentando estabelecer parcerias com personalidades como o Raí [jogador de futebol brasileiro] para juntar esforços nessa empreitada. Vamos tentar levar um pouquinho de ciência para a ONG que ele fundou, a Gol de Letra, para crianças e jovens na periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também estou tentando chegar aos artistas, porque acho que são eles que vão traduzir a ciência para o povo em linguagem simples. E quando temos grandes nomes da arte e da cultura brasileira dando o respaldo para a ciência torna-se possível chegar ao povo, porque são os artistas que estão nas padarias e botequins do Brasil, presentes na rádio e na televisão e que são assunto nas rodas de conversa. Não são os cientistas. Então, acho que eles poderiam ser os nossos porta-vozes. Essa é a intenção do trabalho que estou fazendo nos últimos dois anos.
A senhora construiu uma carreira bem-sucedida em uma área predominantemente masculina e muito competitiva, em um dos países líderes em produção científica e na condição de imigrante. Que conselhos daria para meninas interessadas em ingressar nessa área para lidar com os obstáculos que enfrentou? No começo da minha carreira foi mais difícil, porque tinha menos mulheres na astronomia, mas hoje tem um pouquinho mais. Meu conselho para meninas interessadas em ingressar nessa área é procurar as mulheres que já estão atuando e conversar com elas. Acho que a sororidade tem uma força incrível, porque você dá a mão e é levantado junto. É muito importante termos essa consciência de que sozinhas é mais difícil e, às vezes, impossível. É preciso ter a consciência de não achar que sozinho vamos conseguir fazer tudo, mas procurar pessoas que nos deem a mão no momento certo, na hora que precisamos, e não ter vergonha de pedir, de se expor, e sempre pensar que juntas crescemos mais fortes. Eu sempre ajudo quem me procura quando posso e recomendo isso também a todas as outras mulheres: sempre que forem ajudadas lembrem de ajudar as próximas, porque, se fizermos isso, cresceremos todas juntas.
A senhora foi a primeira mulher a se tornar professora titular do Departamento de Física da universidade a que está vinculada. Quais são as razões da baixa representatividade feminina nessa área? A física ainda é uma das áreas com menor representatividade feminina. Também não existe uma consciência de que a carreira nessa área é muito antiquada. Ainda ensinamos física como [Isaac] Newton inventou. Não é nem como [Albert] Einstein fez depois. E isso acaba causando desinteresse, principalmente pelas meninas. Quando elas têm de decidir o que vão fazer acabam procurando outra área mais interessante. Também tem o problema de elas não se identificarem ao não verem mulheres nessa área. Tem uma ativista americana que fala que não podemos ser aquilo que não vemos e isso faz muito sentido na física. Se as meninas não veem mulheres atuantes na área elas não se sentem representadas e acabam inconscientemente não indo fazer carreira nessa área. Por isso que é muito simbólico o fato de eu ter sido a primeira mulher a me tornar professora titular do Departamento de Física da minha universidade. Não sei se isso vai ter um impacto a longo prazo, mas a curto prazo a gente tem, por exemplo, um programa de pós-graduação em que há balanço de gênero. Temos tantas mulheres fazendo doutorado quanto homens. Isso é uma coisa que não existe nas pós-graduações americanas. Eu tendo a acreditar que isso se deve, em parte, à minha representatividade e ao meu esforço de trazer outras mulheres para a área.
Quais as principais perguntas que sua área de pesquisa busca responder sobre a evolução das galáxias? Eu sou astrofísica extragaláctica e estudo a vida das galáxias, ou seja, como elas evoluem, porque meu interesse é entender como a nossa galáxia chegou ao ponto que está. Acho muito importante isso porque estamos em um sistema solar, a nossa estrela é o Sol e a gente vem de uma galáxia. Como a gente veio parar aqui? Como a galáxia evoluiu a ponto de ter um sistema solar e de ter até vida? São questões como essas que me motivam todos os dias a entender melhor como as galáxias se formam e evoluem. Na minha carreira, tive momentos muito interessantes de descobertas e sempre com essa mentalidade. Quando descobrimos uma supernova, uma estrela que explodiu, que morreu, isso é muito importante porque respiramos oxigênio que foi gerado dentro dessa estrela. Temos ferro no nosso sangue que nasceu dentro da estrela. Todos os elementos químicos da natureza foram feitos dentro da estrela. Só esse conhecimento já é incrível, mas saber melhor os detalhes de como isso influenciou a origem da vida, por exemplo, é importantíssimo. Mas a ciência é incremental. Tem peças pequenininhas que vão sendo adicionadas até completar um quebra-cabeça para entender a vida, as nossas origens. É nisso que eu tento contribuir um pouquinho, para montar esse quebra-cabeça grande do entendimento do Sistema Solar dentro da Via Láctea que, por sua vez, está dentro do Universo.
Como astrônoma associada à Nasa a senhora participou nos últimos anos de missões que empregam grandes telescópios espaciais para obter imagens profundas do Universo, como o Hubble e, mais recentemente, o James Webb. Que descobertas podem ser feitas por meio das próximas missões? Acredito que há muitas descobertas a serem feitas, porque a maior fronteira da astronomia ou da ciência é entendermos a energia e a matéria escura. Afinal, mais de 90% do Universo é composto por esses dois componentes. Então, estamos trabalhando nos focos errados, como grandes estrelas, galáxias e luz. Isso não é a energia escura. Estamos trabalhando só em 4% do Universo e podíamos estar trabalhando nos outros 96%. As próximas missões da Nasa, inclusive uma que chama Nancy Grace Roman Telescope [programada para maio de 2027], estão voltadas a tentar entender melhor a energia escura. Acho que, nas próximas décadas, pode ser que tenhamos de fazer uma revisão grande do assunto. O Universo está acelerando devido à presença do que a gente chama ainda de energia escura. Mas o que é isso? Como funciona? Qual é o componente de energia escura? Será que é uma física que a gente não descobriu ainda? São perguntas que pretendemos responder.
Em quais projetos científicos está envolvida atualmente? Estou atuando em um projeto que eu gosto muito e que envolve vários astrônomos amadores brasileiros. Estamos estudando, por meio desse projeto, o que tem do lado de fora de galáxias, tentando achar resquícios de colisões entre galáxias. Isso é importante porque a Via Láctea vai colidir com Andrômeda e o que acontecerá depois dessa colisão é que vai sobrar uma galáxia. A gente não sabe exatamente como será essa galáxia no final e é isso que estou tentando entender. E eu continuo trabalhando com as imagens profundas do telescópio Hubble. Tenho um projeto com uma ex-aluna de doutorado em que estamos tentando entender como os discos, que são os braços da Via Láctea, se formam. Estamos olhando quando o Universo tinha por volta de 7 bilhões de anos, uma época boa porque sabemos que o Sol já existia nesse período. Temos de focar em um período um pouquinho antes para poder entender como esses discos se formaram.



 A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana
A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet
Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet Ex-gerente de cafeteria toma atitude contra padre Fábio de Melo
Ex-gerente de cafeteria toma atitude contra padre Fábio de Melo Como uma canção dos anos 60 atingiu o topo da parada do Spotify no Brasil
Como uma canção dos anos 60 atingiu o topo da parada do Spotify no Brasil O valor salgado que a justiça precisou devolver a Gusttavo Lima
O valor salgado que a justiça precisou devolver a Gusttavo Lima