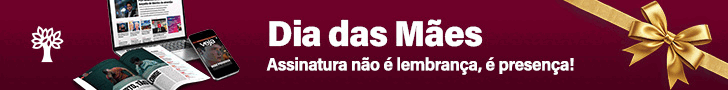Famílias partidas: o número recorde de crianças e jovens alvejados por bala perdida no Rio
O trauma deixa marcas nos que estão em volta

A tragédia que se abateu sobre a família da comerciante carioca Jacklline Lopes, 44 anos, veio em dolorosas etapas. Era junho de 2021 quando ela recebeu a ligação de uma prima dizendo que sua filha havia sido alvejada no braço por um tiro de fuzil, em meio a uma operação policial. A jovem ia visitar a avó no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas nem chegou lá. Foi no hospital que contaram a dilacerante verdade à mãe. Aos 24 anos e grávida de quatro meses, Kathlen, que andava em estado de graça após receber o diploma de designer de interiores, tinha sido atingida no peito e não resistiu. “Um tiro vindo do nada destruiu uma família inteira. Meu neto não teve nem o direito de nascer”, diz Jacklline, que virou símbolo da luta contra esse tipo de violência. Recentemente, ela soube da decisão de conduzir a júri popular os dois PMs envolvidos na ação que resultou nas duas mortes. “É uma pequena vitória, mas sigo despedaçada”, desabafou a VEJA.

Sua história dá contornos humanos às baixas de uma guerra que vem abreviando a vida de crianças e jovens no Rio e cravou um triste recorde: nunca tantos em tão tenra idade foram abatidos por bala perdida durante confrontos — seja entre quadrilhas, seja entre as forças de segurança e as gangues que se apossaram de nacos do território fluminense. Segundo o mais novo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, 26 menores foram feridos nessa inaceitável circunstância em 2024, quatro de maneira fatal. E só nos três primeiros meses de 2025 já houve registro de treze atingidos. A maioria dos que têm a existência interrompida ou para sempre marcada pela brutalidade habita as bandas mais pobres do Rio. “Há comunidades que sofrem com tiroteios a semana toda”, relata Carlos Nhanga, coordenador do Fogo Cruzado. Colocando os números daqui sob a perspectiva global, a conclusão é espantosa.
O cenário atual é um dos efeitos colaterais mais trágicos de um processo conhecido: o do avanço cada vez maior do crime no controle de áreas da cidade. As facções, atuando ali há muito tempo, tentam hoje ganhar espaço invadindo favelas rivais, o que desencadeia mais ações policiais. As operações nos morros cariocas dobraram no ano passado, chegando a até três por dia, como necessária reação à escalada nos roubos e à desfaçatez dos bandidos ao subjugar, à base da ameaça e do medo, a população das áreas em que dão as cartas. Foi a milícia quem mais conquistou terreno nos últimos tempos — um avanço de 200% em dezesseis anos, de acordo com o Fogo Cruzado. “Atualmente, o domínio territorial rende mais dinheiro do que a droga”, observa Victor Santos, secretário estadual de Segurança.

E dá-lhe duelos entre grupos cada vez mais armados, trazendo aspereza sem igual à realidade de quem é obrigado a viver em permanente estado de vigilância. Em geral, a sensação de impunidade ronda os lares sugados pela tragédia, um ingrediente adicional ao drama da perda de um filho neste cenário. Em janeiro, Nycolly Moraes, 12 anos, levou um tiro no tórax em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Num dia como qualquer outro, ela ia com a mãe, também ferida, comprar refrigerante. As balas que acertaram as duas cruzavam os céus da favela num conflito entre a PM e a facção Comando Vermelho. A menina morreu na hora. “Até agora, a polícia nem nos procurou para prestar depoimento. A morte dela não vai dar em nada”, resigna-se o irmão, Wallace Moraes.
Retomar o controle de áreas dominadas pelo crime representa hoje um dos maiores desafios para uma série de grandes metrópoles brasileiras. No caso do Rio foi necessário um grande entendimento para reduzir ao máximo a letalidade, que acabou sendo formalizado no início de abril pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dentro da chamada “ADPF das favelas”. A bem-vinda medida determina que o governo do estado apresente uma estratégia para a recuperação de territórios tomados pelo crime organizado e implante uma cartilha de medidas preventivas nas operações, entre as quais a comprovação de que câmeras foram mesmo instaladas nas fardas dos agentes e a presença de ambulâncias nas zonas conflagradas. Em entrevista recente concedida às Páginas Amarelas de VEJA, o governador Cláudio Castro afirmou: “A gente sabe que é muito ruim quando uma vítima inocente perde sua vida. Montamos, no âmbito da Polícia Militar, uma sala de tomada de decisões, investimos no maior centro de treinamento policial da América Latina e há controle das operações pelo Ministério Público”.

É fundamental mesmo reconhecer a atual dimensão do problema e melhorar as regras a ser observadas no cada vez mais fundamental trabalho de repressão. Só mesmo uma ação mais efetiva e coordenada das forças de segurança é capaz de evitar tragédias como a ocorrida em 2019. Ágatha Félix, 8 anos, estava a bordo de uma Kombi com a mãe quando uma bala da arma de um policial alojou-se em seu tórax, num caso que se tornou emblemático. A comoção foi tamanha que, em 2021, a Lei Ágatha passou pelo crivo do Legislativo estadual, assegurando prioridade na investigação de mortes de crianças no Rio. Em novembro passado, o agente, que alegou ter “confundido o alvo”, acabou inocentado. “Foi massacrante ver sua absolvição”, lamentou a VEJA a mãe, Vanessa Félix. As regras acordadas no STF na “ADPF das favelas” ajudarão a fazer justiça em casos nos quais houver comprovação de excesso ou de despreparo das forças de segurança. Se saírem realmente do papel, elas podem contribuir ainda para acabar com a pregação enviesada de muitas ONGs, segundo a qual os bandidos são vítimas do sistema, recebidos por policiais que agem como criminosos fardados.
Não há mais como tolerar demagogia barata e paralisante diante de um caldo de violência que traz impactos à infância sob ângulos diversos. Do ponto de vista da saúde mental, os desdobramentos já foram comprovados e podem ser duradouros. Falta de concentração, estresse, insônia — tudo isso é comum em crianças expostas à elevada brutalidade. “Esses jovens também correm o risco de internalizar a ideia de que a violência é uma ferramenta válida para lidar com disputas”, enfatiza o psicólogo André Vilela Komatsu, do Núcleo de Estudos da Violência da USP.

No dia a dia, a garotada não vai à aula quando há operações na vizinhança ou tenta aprender mesmo com a barulheira no entorno da escola. “Acontecia pelo menos uma vez por mês e não havia um procedimento de segurança que explicasse como proteger os alunos”, relata um professor que lecionou no Complexo da Maré, um dos maiores conglomerados de favelas do Rio, de onde pediu para ser afastado. Em 2024, os estudantes dali ficaram um mês distantes das carteiras, presos em casa em meio à saraivada de tiros.
Vidas são ceifadas de um minuto para outro, sem que os parentes consigam assimilar a ideia de uma perda dessa dimensão. Aos 12 anos, Kamila Vitória brincava na praça com os amigos, um hábito das crianças da favela da Guarda, na Zona Norte carioca. Sem desgrudar os zelosos olhos da filha, o promotor de vendas Sandro Alves a observava de longe quando o som de tiros instaurou o terror. Tudo aconteceu num assombroso flash. Sandro gritou para que a menina se escondesse, mas àquela altura ela já havia sido baleada. Em casa, a mãe, Magna Gomes, cuidava da caçula ao receber a notícia que a dilacerou e, passados quatro meses, ainda lhe traz vertigens. “Dizem que a dor do luto diminui, mas para mim só piora. Perdi minha grande companheira”, fala. Depoimentos como esse dão a dimensão de uma tragédia cotidiana à qual é preciso dar um basta.
Publicado em VEJA de 25 de abril de 2025, edição nº 2941


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A última pá de cal que faltava para enterrar o ‘BBB 25’ na Globo
A última pá de cal que faltava para enterrar o ‘BBB 25’ na Globo Cauã Reymond é excluído de grupo de ‘Vale Tudo’ após polêmicas
Cauã Reymond é excluído de grupo de ‘Vale Tudo’ após polêmicas A vida de casada de Ilze Scamparini: muito além dos ‘telhados’ de Roma
A vida de casada de Ilze Scamparini: muito além dos ‘telhados’ de Roma De quem veio a ordem para TV Record ‘ignorar’ morte de papa Francisco
De quem veio a ordem para TV Record ‘ignorar’ morte de papa Francisco O vexame histórico que coroou o fracasso do BBB 25 na audiência
O vexame histórico que coroou o fracasso do BBB 25 na audiência