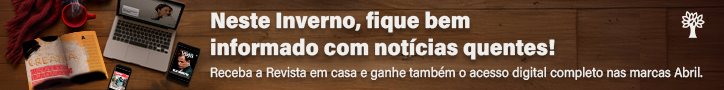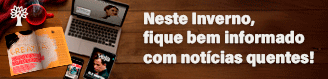A equação não fecha
Levantamento inédito mostra que a lógica de quanto mais dinheiro, melhor não tem funcionado para o ensino brasileiro na última década
Sempre que um mau resultado da educação brasileira vem à superfície, reavivam-se batidos argumentos. O principal deles: como o dinheiro é pouco, a excelência nunca chega. Eis uma daquelas verdades fincadas em pedra, assunto difícil de remexer dada a inquebrantável certeza absoluta. Os números estão aí, porém, para ajudar a derrubar a ideia cristalizada de quanto mais recursos, melhor. Um levantamento inédito, que contabilizou uma década de gastos na rede pública do país, chegou a uma conclusão surpreendente: mesmo com a crise econômica e as flutuações que ela impôs, o investimento dos estados subiu, em média, 32% entre 2007 e 2016; nos municípios disparou 66%. A qualidade não seguiu nem de longe o mesmo compasso. O Brasil continuou firme e fraco entre os países com pior ensino (veja o quadro abaixo).
O levantamento, feito pelo IDados, instituto que monitora a educação no país, desceu ao detalhe para mapear onde as verbas cresceram de forma mais generosa nesta última década: o ranking estadual é encabeçado por Pará (mais 151%), Piauí (105%), Goiás (80%), Mato Grosso (80%) e Amazonas (59%). Os recursos até alavancaram infraestrutura e salários nas escolas de ensino médio (para onde vai o dinheiro do estado), mas não ajudaram a salvar os alunos da maré de notas vermelhas — dez anos atrás eles estavam entre os níveis 1 e 2 (numa escala de zero a 10) em língua portuguesa e matemática, e ali estacionaram. “O sistema brasileiro já se provou ineficiente. Não faz sentido investir cada vez mais em um modelo que não dá certo”, pondera o matemático Paulo Oliveira, diretor do IDados, no Rio de Janeiro.
Uma das formas de medir o investimento de um país em educação é o tanto que ele injeta na área em proporção ao PIB, e o Brasil vai bem aí: destina 6,1% (acima da média de 5,6% da OCDE, a organização das nações mais ricas). O problema é que, sendo um país tão populoso, o gasto por aluno se situa entre os mais baixos do mundo, embora esteja em ascensão. O que não dá é para crescer a esmo, imaginando que esse será um passaporte automático para o topo — os Estados Unidos, por exemplo, são um dos cinco campeões em gastos e aparecem espremidos entre os medianos do ranking. “O Brasil usou recursos nesta última década para aumentar o salário de professores e fazer de tudo um pouco, sem eleger prioridades. Assim, não mudou de patamar”, diz Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, na Fundação Getulio Vargas.
Os caminhos para a excelência são conhecidos e nem sempre consomem um caminhão de dinheiro. Uma alavanca para a dianteira é o recrutamento de bons alunos para a docência, algo que demanda mais do que salário inicial atrativo. “A carreira precisa ser estimulante e meritocrática para atrair os melhores, como funciona em outros países”, observa o especialista Carlos Monteiro. As faculdades de pedagogia também precisam ser menos teóricas e mais afinadas com as modernas práticas. Ter um currículo que sirva de bússola para uma boa aula é outro passo para virar a página — este o Brasil está dando. O cientista social José Eustáquio Diniz lembra que os ventos da demografia sopram a favor: “Há mais pessoas produzindo e menos crianças e idosos na população, uma oportunidade única para investir em capital humano. Essa fase dura só até 2030.” Que a próxima década seja melhor do que o tempo que vivemos.
Publicado em VEJA de 11 de abril de 2018, edição nº 2577



 Primeira denúncia de fraude em emendas, acusação contra deputados do PL avança no STF
Primeira denúncia de fraude em emendas, acusação contra deputados do PL avança no STF Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus
Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus Ex-assessor que expôs Alexandre de Moraes será testemunha de defesa de bolsonarista
Ex-assessor que expôs Alexandre de Moraes será testemunha de defesa de bolsonarista Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos
Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões
Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões