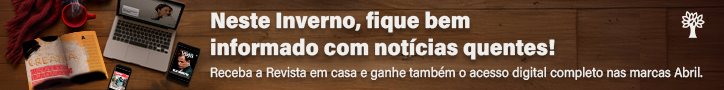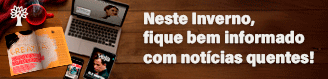A caldeira do diabo
Ambição nuclear, intervenção em outros países, sufoco com sanções econômicas e choques com o presidente americano: por que o Irã assusta o mundo

Escondidos debaixo da terra, sob um escudo com espessura de mais de 10 metros de concreto, milhares de máquinas de formato vertical chamadas centrífugas giram a 1 500 revoluções por segundo. A base é no Centro Nuclear de Natanz, bem no coração do Irã, cercada por uma cadeia de montanhas como proteção extra. O giro alucinante empurra os átomos de urânio-235 para o centro da máquina e, assim, está aberto o caminho: a partícula do inferno pode passar para as fases seguintes do processo chamado enriquecimento e ser concentrada no núcleo esférico de mil sóis de uma bomba nuclear. Segundo os mais apavorados, pode também levar à batalha final, o Armagedom bíblico, a guerra do fim do mundo das profecias de Ezequiel e de São João Evangelista.
No começo da semana, o Irã anunciou que havia quadruplicado a produção de urânio enriquecido, ainda em proporção admitida pelo acordo nuclear gorado quando Donald Trump cumpriu uma promessa de campanha e retirou os Estados Unidos do jogo. Trump sempre disse que o acordo é ruim, fraco, permissivo, excessivamente complacente com o Irã e perigoso para os Estados Unidos e para o mundo ao prorrogar e apenas maquiar as absolutamente descaradas ambições bélicas do regime iraniano. Ele propõe negociar outro acordo e mandou um recado aos iranianos: “Liguem para mim”. Para reforçar a mensagem, e diante de movimentações suspeitas dos iranianos, redirecionou o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln para o Golfo Pérsico, o “laguinho” mais volátil do mundo, por onde passam 40% do petróleo transportado por mar no planeta.

Se tivesse soltado alguma das pragas apocalípticas, não teria provocado reações piores. Por parte das autoridades civis, militares e principalmente religiosas do Irã, um país bizarro que mistura práticas superficialmente democráticas com um sistema teocrático em que os aiatolás têm a palavra final em tudo, vieram os surtos, ameaças e provocações habituais. Além de algumas mais específicas, como manobras militares sub-reptícias e pequenos mas simbólicos atos de sabotagem com drones ou cargas explosivas instaladas por mergulhadores em petroleiros estrangeiros — um aviso da desgraça que pode acontecer. Por parte dos adversários de Trump, o que significa toda a elite política, jornalística, acadêmica e artística, não só nos Estados Unidos como em países alinhados ou periféricos, o surto foi maior ainda. Evocando uma frase clássica do grande comentarista político Michael Moore (o.k., é um bom documentarista, embora do mundo da fabulação): “Ele vai acabar matando todos nós”.
Por causa da tradição bíblica no mundo ocidental, transmitida ao longo dos séculos mesmo sob a forma deturpada de narrativas populares ou de filmes-catástrofe de Hollywood, tudo o que acontece de ruim nessa região do mundo é interpretado como um sinal do apocalipse. “Fim do mundo”, no caso específico, é o dos inimigos de Deus, pois “uma grande multidão” dos bons se salvará, mas as referências apocalípticas ultrapassam o que está escrito nos livros santos e entram no escatológico terreno do inconsciente coletivo: se teve começo, terá fim, diz uma mensagem cravada do software humano.

Os xiitas, a corrente muçulmana majoritária no Irã e minoritária ou não tão absoluta no resto do mundo islâmico, também têm sua própria versão de um evento apocalíptico, a volta do Mahdi. Nessa narrativa messiânica, o Imã Oculto, desaparecido há 1 000 anos, vai se revelar de novo para instalar um reinado islâmico perfeito. É claro que antes haverá umas batalhas épicas para implantar a verdade entre os relutantes inimigos, os sunitas. O oposto, evidentemente, tem peso mais acachapante ainda: o maior inimigo do Estado Islâmico, que atraiu fanáticos do mundo inteiro para uma guerra santa na Síria e no Iraque, é a “heresia” xiita. Mais do que uma comparação entre católicos (os xiitas, com seu mártir original, o belo e trágico Ali, considerado o herdeiro legítimo do profeta; práticas de autoflagelação e verticalização do clero) e protestantes (horrorizados diante do que consideram anárquicos desvios do monoteísmo estrito), talvez fosse possível fazer ilações entre trotskistas e stalinistas, com seus respectivos radicalismos entre uma minoria extremamente combativa e uma maioria brutal.
O objetivo desse desvio político-religioso é lembrar o pano de fundo da verdadeira guerra de ideias e de armas também: a insuperável dicotomia entre xiitas e sunitas. No caso dos iranianos, existe o adicional étnico: eles são persas, com uma história de poder e glória de impérios passados. A espetacular expansão que levou a revelação divina ao profeta Maomé transmitida, na ponta da espada, por tribos árabes atrasadas e primitivas conquistou o último desses impérios pré-islâmicos, o sassânida, algo decadente porém de um requinte incomparável. A superioridade cultural dos persas se manteve na literatura, nas artes, no estilo de vida e nos debates religiosos nos quais o xiismo, com sua versão mais “aristocrática” de uma conexão via linhagem sanguínea direta com Maomé e ao mesmo tempo mais populista, através do culto ao martírio de Ali, acabou ganhando a parada. Principalmente depois que a dinastia dos safávidas (não confundir com os safados, de um outro país) implantou um império xiita praticamente na época em que o Brasil estava sendo descoberto, sob a égide daquele outro substantivo.
Numa das piores políticas de identidade de marca de todos os tempos, o nome Pérsia, de origem grega, foi trocado por Irã, a autodenominação do país em pársi, pelo penúltimo xá, um coronel do Exército que tomou o poder e o fabuloso Trono do Pavão (uma reprodução, o original foi roubado da Índia em 1739 e desapareceu) e impôs uma modernização nos moldes da de Ataturk na Turquia. Como o desmilinguido império otomano, a ex-Pérsia era uma zona franca em que os impérios britânico e russo entravam e saíam à vontade. O coronel-imperador foi convencido a abdicar em 1941, e seu filho foi tirado do exílio quando um golpe derrubou o governo nacionalista e nacionalizante (e, ainda por cima, do petróleo, à época feudo britânico) de Mohammad Mossadegh.
Ao contrário da mitologia dominante, o golpe patrocinado pela CIA, mais no campo da propaganda, deu errado, e os militares tiveram de intervir. Muita coisa deu errado para os Estados Unidos depois que, em 1979, uma revolução popular de inspiração religiosa, embora não unicamente, derrubou o último xá, Reza Pahlevi. “Estudantes” de uma ala islamita radical tomaram a embaixada americana, despiram diplomatas e funcionários, vedaram seus olhos e amarraram suas mãos. Ficaram 444 dias como reféns. Alguns sofreram torturas físicas e psicológicas, inclusive fuzilamentos simulados. Uma desastrosa tentativa de resgate acabou em fiasco militar, com helicópteros americanos trombando no deserto, e político. Jimmy Carter, o presidente que havia dado asilo ao xá deposto e moribundo por dever moral e negociado, secreta e inutilmente, com o aiatolá Khomeini para conseguir uma sucessão ordenada, perdeu a chance de ser reeleito. Ronald Reagan também pagou sua cota de humilhação. O nascente Hezbollah, movimento xiita armado e financiado pelo Irã, explodiu a embaixada americana e a base militar usada como Q.G. pelos fuzileiros navais enviados com a missão impossível de pacificar o Líbano. Os 241 mortos com um caminhão-bomba, uma novidade relativa em 1983, permaneceram como recorde de vítimas em atentado terrorista até o 11 de setembro de 2001. A “maldição iraniana” também funcionou ao contrário: em 1988, a combinação entre um comandante agressivo, um falso positivo por dois radares e um prazo de quatro minutos para uma decisão levou o comandante de um cruzador americano no sempre perigoso Golfo Pérsico a aprovar o bombardeio de um avião inimigo. Não era um caça iraniano, como suposto, mas um avião comercial. Morreram 290 pessoas, incluindo 66 crianças.
Com a insegurança permanente das minorias e a autoconfiança dos que se consideram guiados por Alá, o Irã teocrático quer tudo: fazer a bomba, liderar o mundo muçulmano através do apoio à causa palestina, destruir Israel (Ali Khamenei, que tem o título de líder supremo, como nas sátiras de ficção científica, deu até prazo: vinte anos). Tem um projeto disciplinado, bem dirigido e inflexível, apesar dos delírios retóricos, que já colheu extraordinários sucessos: a ascensão do Hezbollah, hoje a força dominante no Líbano, e a quase impossível sobrevivência do regime aliado da Síria. Sem mover um turbante, conseguiu que os Estados Unidos de George Bush filho derrubassem seu maior inimigo regional, Saddam Hussein, e abrissem caminho para a ascensão dos xiitas iraquianos, um grupo diversificado mas com altíssimo nível de alinhamento político-religioso. Foram movimentações belicosas no Iraque que provocaram os Estados Unidos? Foi John Bolton, o bigodudo assessor de Segurança Nacional, que insuflou Trump a cuspir fogo? Foi Trump que resolveu sozinho aumentar a pressão, aproveitando que a economia vai bem, a campanha pela reeleição ainda não está a mil e fazer o Irã renegociar o acordo nuclear seria um belo troféu eleitoral? Ou foi o regime iraniano, sob o sufoco das renovadas sanções econômicas, que apostou num enfraquecimento do presidente americano, cujo impeachment é pedido pela oposição antes mesmo que ele dispare o primeiro tuíte do dia? Um dos mais incandescentes da fase atual levou um bocado de gente a correr de volta às profecias bíblicas: “Se o Irã quiser brigar, será o fim oficial do Irã. Nunca mais ameacem os Estados Unidos!”. O detalhe do ponto de exclamação e as seis palavras que o antecederam acabaram obscurecendo a conjunção condicional.
Por causa do estilo, abrasivo para dizer o mínimo, muitos acreditam que Donald Trump é um maluco louco por guerra. Tirando a parte altamente subjetiva do maluco, é exatamente o oposto: Trump usa a exibição do incomparável poder americano, representado no quadro atual pelo Abraham Lincoln com suas noventa aeronaves, além de cruzadores e contratorpedeiros carregados de Tomahawks, justamente para não precisar recorrer ao uso da força. Tanto ele quanto a ala da direita que mais o apoia são extremamente contra o intervencionismo. Transferir o grupo de ataque para o “laguinho” também reassegura o movimento do petróleo, vital para o mundo inteiro, e dá alguma tranquilidade aos sauditas, os mais nervosos inimigos regionais do Irã (“Cortem a cabeça da serpente”, pedia reiteradamente o falecido rei Abdullah, segundo uma das memoráveis revelações do WikiLeaks). O governo Trump está esperando o fim do Ramadã, equivalente muçulmano ao que era a quaresma, em 4 de junho, para apresentar o que diz ser um inovador plano de paz para Israel e palestinos. Precisa da plena cooperação dos aliados árabes. Quanto aos iranianos, podem apostar até o último tapete persa que vão urrar, pedir “morte aos Estados Unidos” e “morte a Israel”, enriquecer mais urânio e empobrecer mais a própria população. E muita gente vai achar que está chegando a hora em que o príncipe Gog de Magog (a Rússia, na interpretação corrente), aliado a Meshech e Tubal (a Turquia), e a eterna Pérsia vão botar para quebrar, ao som de trombetas apocalípticas.
Publicado em VEJA de 29 de maio de 2019, edição nº 2636

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br



 A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins
A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet
Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet