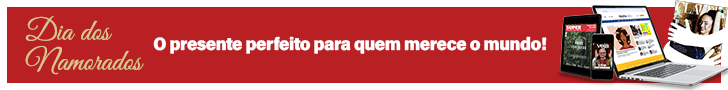A era dos extremos: as causas e os estragos do furacão Milton
O susto é mais uma constatação da sucessão de desastres climáticos alimentados pela natureza e do descaso da humanidade

Foi assustador, em cenas que pareciam ter sido montadas por especialistas em efeitos especiais dos filmes de catástrofes lançados por Hollywood. Mas não: era a realidade soprando aos olhos. Ao tocar o solo de Siesta Key, nos Estados Unidos, na quarta-feira 9, o furacão Milton arrastou casas e carros em cidades parcialmente esvaziadas, dado o inteligente movimento prévio de evacuação. Os ventos chegaram a 205 quilômetros por hora, em escala de número 3 — o patamar máximo é 5, com rajadas de até 300 quilômetros por hora. Ao Milton, previa-se uma trilha de tornados menos agressivos. O medo instalou-se em uma região do mundo acostumada a eventos dessa natureza.

Fenômenos do tipo se sucedem com frequência inédita — outro furacão, o Helene, passou duas semanas antes do Milton. Mas não surpreendem os cientistas ambientais. Na véspera dos estragos, uma coalizão internacional liderada pela Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, com participação da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que a saúde do planeta anda mal, muito mal, e eventos do gênero se tornarão mais frequentes. Dos 35 parâmetros utilizados para monitorar os impactos das mudanças climáticas anualmente, 25 atingiram recordes extremos e preocupantes no último ano. A análise contempla fenômenos como aumento da temperatura e da acidez dos oceanos, com impactos nas águas, na superfície e nos habitantes do globo. Apenas em território americano, o número de mortes relacionadas ao calor decolou 117% entre 1999 e 2023.
Os dados, incômodos e assustadores — ampliados pelo susto do violento ciclone tropical —, são resultado do triste casamento de condições naturais com o aquecimento global provocado pela mão suja do ser humano. É constatação que brota de outro levantamento robusto, publicado na reputada revista Nature por cientistas americanos, holandeses e chilenos. Os autores avaliaram as ocorrências de altas temperaturas, baixa umidade e risco de incêndio na América do Sul nos últimos cinquenta anos. O veredicto: de 1971 a 2000, houve uma média de vinte eventos extremos por ano. De 2003 a 2022, eles saltaram para setenta dias a cada doze meses. Portanto, o caos de 2024 era bola cantada, incrementada por insistente descaso.
Convém compreender como a falta de cuidado ambiental é elemento que multiplica os riscos de variações já existentes na natureza. Há influência de dois fenômenos climáticos que se repetem de dois a sete anos, no máximo: o El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico, e La Niña, pelo resfriamento. Juntos, provocam danos severos, especialmente na porção sul das Américas. Deram-se aumento da frequência de secas e riscos de incêndio no Amazonas. Na região do Gran Chaco, que compreende a planície entre Argentina, Bolívia, Uruguai e Brasil, mais especificamente em uma porção de Mato Grosso do Sul, viu-se uma desidratação inenarrável. Em Maracaibo, na Venezuela, idem. “Nosso trabalho sugere que o descontrole da civilização leva à intensificação dos problemas gerados na esteira do El Niño e La Niña”, disse a VEJA Raúl Cordero, cientista climático da Universidade de Santiago, no Chile. O pérfido resultado, nas palavras de Cordero: “Como a América do Sul é mais impactada pelos dois fenômenos, está também sujeita a mais eventos extremos do que o resto do planeta”.
E dá-lhe uma sucessão de marcas negativas, com um único consolo, o fato de a costa brasileira não estar sujeita a furacões. “O La Niña esteve presente de 2021 a 2023 e levou a registros históricos de secas, no Sul, e de chuvas torrenciais, no Norte”, lembra o cientista ambiental Carlos Nobre, professor da USP. Neste ano, a crise hídrica na Amazônia é reflexo do El Niño, vetor de águas excepcionalmente mais quentes no Oceano Atlântico. Se não bastassem as queimadas, a seca se instalou. O Rio Madeira, que começa na Cordilheira dos Andes e termina no Amazonas, com trechos de 10 quilômetros de largura, atingiu seu menor nível de profundidade em solo brasileiro: 41 centímetros. Os vilarejos ao redor estão sem água e sem possibilidade de transporte. A falta de chuva também se estende ao Pantanal, que vive o pior cenário dos últimos setenta anos, e ao Cerrado, que representou 43% de toda a área queimada no Brasil em agosto.

A equação resulta em freio para a economia. Estima-se que o vaivém do clima, aos sustos, com este que agora foi medido na ponta do lápis, reduza o PIB da América Latina em 12% até 2050. Haverá perdas em regiões como Mato Grosso do Sul, celeiro da produção de soja. As inundações no Rio Grande do Sul, que deixaram 182 mortos e perdas de 97 bilhões de reais, devem acarretar a queda de 1% no PIB brasileiro. E pior: o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, da União Europeia, apontou o Brasil como o maior emissor de gases de efeito estufa de 2024, destaque trágico e na contramão da imagem pretendida pelo governo. Está mais do que na hora de as autoridades, de mãos dadas com a iniciativa privada, beberem da ciência para entender a urgência do que vivemos. O vendaval do Milton representa um novo alerta.
Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2024, edição nº 2914


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil
Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia
Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia