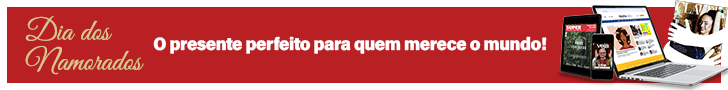Dona Jacira: quase tiro meus filhos da arte. Estava desumanizada para arte
Mãe do rapper Emicida e do Fióti. Da Tiana e da Katia. Mulher, preta, periférica, artista. Ela conta o árduo caminho de mudar o destino de ser doméstica

Jacira Roque Oliveira, ou simplesmente Dona Jacira, é artista plástica e escritora. Na segunda-feira, dia 2 de maio, estreou na televisão como protagonista de um documentário que foi ao ar no GNT falando sobre legado. Quem conhece os filhos artistas e famosos de Dona Jacira não titubearia em dizer que eles são seu legado. Mas Jacira é muito mais do que mãe do Emicida ou do Fióti, ou da Katia e da Tiana. Jacira é mãe, é mulher, é periférica e é preta, só para começar a história. Desde adolescente queria fugir do destino traçado para mulheres pretas e periféricas. Ela queria ser mais do que empregada doméstica. Ela casou aos 13 anos, teve os quatro filhos antes dos 25 anos. Enviuvou pouco tempo depois. Como é difícil fugir de destino, ela em algum momento acabou sendo faxineira. “A gente vai sendo esvaziado daquilo que a gente quer ser”. Mas seu caminho mudou quando a filha de uma patroa chamou a mãe e disse: “a negra limpou meu quarto, traz o álcool pra limpar a maçaneta onde ela pôs a mão.” Era hora de ter um novo destino e voltou a estudar. Em algum momento se deparou com seu próprio alcoolismo. Em outro com insuficiência renal que a levou para a hemodiálise. Mas como o destino queria, ela percorreu um longo percurso para recuperar a arte que sempre esteve nela, mas que se manifestou primeiro em seus filhos. Quando viu seu filho compor sobre aquilo que ela mesmo pensava, disse para si mesma: “eu também quero seguir esse caminho”.
Até chegar neste ponto, no entanto, Jacira teve que lutar contra ela mesma. “Quase que preparo meus quatro filhos para serem empregada doméstica também”, diz Jacira lembrando do tempo em que insistia para que eles reprimissem a arte que havia dentro deles para fazer dinheiro. “Eu já estava totalmente desumanizada para a arte”. Isso acontece com frequência numa periferia sem perspectivas. Criar os quatro filhos e dar de comer não foi tarefa fácil. A casa sempre tinha um buraco por onde vazava a água da chuva.
Não, não foi coincidência trazer uma mãe para este papo de domingo que está indo ao ar neste dia das mães. Mas este papo é profundo em muitos outros níveis, inclusive com uma visão política privilegiada da periferia. Dona Jacira nunca deixou a periferia onde mora há 53 anos. Sua casa fica em Cachoeira, zona norte de São Paulo. Por meio dos seus relatos ficamos ainda sabendo como as pessoas morreram por lá durante a pandemia, e não de Covid, mas jovens entregadores tiveram suas vidas levadas por acidentes de moto. Sua triste conclusão é que de repente voltamos à década de 70, onde sequer a criança tem direito de estudar. Nesta conversa, ela também fala da ancestralidade, um ponto central do documentário que foi produzido pelo seu filho Evando Fióti e o Laboratório Fantasma. O que é ancestralidade, afinal? Vem ler e conhecer um pouco deste mundo da Dona Jacira, 58 anos, mais nova do que nunca.
A senhora casou muito cedo. Com 13 anos. Por quê? Eu fico pensando nisso também. Não tinha mais possibilidade de vida pra mim. Todas as coisas que eu queria fazer não eram aceitas nem pela escola nem pela minha comunidade. A gente sempre ia sendo preparado para ser empregada doméstica. E como é uma coisa que eu nunca pensei em ser….. Então o que acontece? A gente vai sendo esvaziado daquilo que a gente quer ser. Eu não via mais possibilidade. Mas uma outra questão que também vejo é que na minha época as pessoas casavam com essa idade. Até mais cedo. Porque tinha aquela ideia das famílias de se livrar, de passar para o marido tomar conta. Era uma época em que a gente, as mulheres, éramos criadas para o tanque e para a pia. Os meus irmãos ganhavam um dinheirinho para ir pra cidade. A gente nunca tinha pra onde ir. Nunca. Então uma solução era o casamento.
A senhora chegou a ser empregada doméstica em algum momento? Eu cheguei. A minha mãe sempre foi lavadeira aqui nessa região porque aqui tinha muitas minas e eu achava bonito ver as mulheres lavar roupa, estender lençol ou torcer as cobertas e aquela água em abundância. Então eu achava que minha mãe era rica. Quando eu passei por essa situação, o meu marido também não tinha muito boas oportunidades de emprego. Eu falei, eu vou lavar roupa porque ainda tinha muita mina por aqui. E aí eu vi o quanto aquilo era horrível. Parecia tão fácil. E aí lavava aquele monte de roupa e quando ia entregar descobria que aquele dinheiro mal dava pra comprar mais duas ou três pedras de sabão. Neste momento, uma pessoa me traz como solução ser faxineira. Eu trabalharia no dia, receberia no dia. E eu fui e fiquei alguns anos trabalhando como faxineira. Mas houve uma coisa que me tirou daquele caminho. Uma vez eu limpei o quarto numa casa aqui na Água Fria e uma moça tinha duas meninas e a mais velha falou assim “mãe, a negra limpou meu quarto, traz o álcool pra limpar a maçaneta onde ela pôs a mão”. Aí eu vi que o único meio de deixar de ser empregada doméstica ou fazer qualquer outro trabalho era enfrentar a escola. Eu tinha ficado viúva e me matriculei. Eu tinha parado na sexta série e daí eu concluí, com muito protesto. Estudei então enfermagem (curso técnico) e tive acesso a um pouco de humanidade. E o que que acontece? Descobri que eu reproduzia violências que eu aprendi em casa. Que eu aprendi na minha região. Quando você vai pra enfermagem você começa a entender que você também está inserido naquela violência, que você também faz aquilo, que aquilo poderia ter acontecido com você.
E como é que foi a criação dos seus filhos no meio disso tudo? Uma correria. Porque quando a gente tem questões que tem a ver com emprego, que nos dê qualidade de vida, a vida da gente vai ficando muito precária. E muito embora a gente se esforce pra alimentar os filhos todos os dias e dar a eles o mínimo que a gente pode ter, a gente sabe que não é aquilo que a gente queria. Aquilo foi levando a uma angústia. Quando todo dinheiro que você ganha é muito pouco. E as crianças têm necessidades. A gente morava numa casa muito precária, eu não tinha condições de arrumar telha furada, vazamento. A minha mãe me dava a casa pra morar, mas não tinha como arrumar aquela casa. E aquilo era um sofrimento para os meus filhos. Pra mim também. Eu tentava fazer o máximo que eu podia, mas o máximo não era muito também. As coisas melhoraram um pouco quando eu passei a estudar como técnica de enfermagem porque aí eu consigo colocar eles numa escola melhor, todos eles foram pro Sesi. Entravam às sete da manhã, saíam às seis da noite. Então ali tomavam café, almoçavam e jantavam. Pelo menos isso ficava garantido porque quando a gente sai pra trabalhar e deixa os filhos em casa eles se alimentam, mas não se alimentam direito. Eu acho mais importante porque sem comer a gente não lê direito. A gente não guarda nada direito. Mas aí então a partir do momento da minha ascensão econômica, que eu considero, as coisas vão tomando um outro rumo e aí eu consigo comprar um terreno, a gente consegue construir a casinha, que é essa aqui que eu estou falando com você agora, e era nossa casa, a gente vai conseguindo um pouco de autonomia. Não foi uma criação como essa que as pessoas dizem medonha da periferia. Mas é uma situação precária. Uma situação precária que a gente não consegue se alimentar adequadamente.
A senhora hoje teria condições de morar em outro lugar que não na periferia? Eu teria, mas eu estou aqui há 53 anos. Eu não consigo me imaginar em outro lugar.
E como é que a senhora vê a evolução aí da periferia ao longo desses 53 anos? Melhorou? Piorou? Está igual? A periferia é sempre um lugar muito abandonado pelo poder público. Eu moro muito longe. E minha teima é de que a minha casa tem que virar um centro cultural porque eu me criei aqui. Eu fui totalmente ausente da minha cultura e muito embora a maioria das pessoas sejam negras, a gente não se sente aceito, mas a gente também não sabe por quê. Eu não sabia por quê. Para eu entender isso eu tive que dar um grande salto e parar lá pela Rebouças, pela Vila Madalena, Pinheiros, para encontrar grupos de pessoas que se unem para falar sobre o que é ser negro, o que é ser uma mulher negra. Mas aí eu consigo entender o quanto é importante esse ensinamento. Então eu luto para que a minha casa vire no mínimo uma associação, uma coisa desse tipo. Nos anos 80, eu tinha muita sede disso e de repente veio parar aqui os primeiros diretórios de esquerda. Foi a esquerda que adentrou as periferias primeiro. E eu deixei a igreja, eu era muito religiosa e a religião não me trazia nada que fosse interessante. Me trazia aquela fé, mas que era fé cega. E aí me veio um partido político e me fala de direitos e deveres. Então a política me tirou da igreja. A vida precisa de ação. Pode ter uma oração? Pode, o quanto a oração aquece o coração, mas não põe pão na mesa. Este cuidado a política me trouxe. Se você não reagir contra o sistema, se você não colocar no sistema uma outra forma de vida, você não vai conseguir sair desse mundinho do ora que melhora.
E as pessoas da comunidade? Tiveram essa evolução também? A comunidade evoluiu nos anos 80, todos nós aqui íamos pro mesmo lugar e tinham grandes encontros e dali surgiram os grandes encontros de mulheres, muito embora naquela época ainda não se falasse de violência doméstica. Mas quando esses partidos se recolheram e acharam que já estava tudo por completo, cada lugar onde tinha um diretório regional de política surgiu um diretório regional religioso. Então a gente ganhou várias igrejas evangélicas, porque a igreja católica não se aproxima de nós, ela é distante. E onde não coube uma igreja evangélica, coube um boteco, uma mesa de sinuca. Então era nossa grande derrocada, a grande derrocada da periferia foi essa. Junto com isso, o tráfico intensificou. E isso foi tirando das pessoas a consciência de política. Depois entram os partidos de direita e começa esse confronto de política pra política e a gente não teve estudo suficiente para suportar isso. A gente não vai ficar um contra o outro como se fosse vizinho contra vizinho. E não é partido contra partido. E aí as pessoas estão construindo as suas casinhas, ela esqueceu a luta e aí ela melhorou um pouco de vida porque ela estudou um pouco e aí ela escolhe. Ela vai continuar estudando? Não, vou comprar um carro. Ela esquece que ela está comprando um carro que ela não tem nem onde colocar. Teve uma época que estenderam as formas de pagar, de repente a gente conseguiu, as pessoas conseguiam fazer empréstimo. Foi mesmo a festa. Quanta gente não comprou seu carro pra pagar em seis anos. Só que ele ficando no tempo, na chuva, ele não durava seis anos. Mas eu estou falando do carro como um ponto de referência. A pessoa compra um carro e se alimenta mal. Compra um carro e bebe mais.Era uma deseducação. E a gente pagou. Eu pensei que a gente nunca voltaria a viver o que a gente está vivendo porque é isso que a gente está vivendo agora, das crianças não terem direito a estudar direito, foi o que eu passei nos anos 70. A gente regrediu muito.
Que chocante isso, né, dona Jacira? Sim. Então o que a gente está passando hoje não é novo. Eu lembro que nós tivemos um presidente da República que chamava João Figueiredo, que eu ouvia ele falar na televisão que ele preferia sentir cheiro de cavalo do que o cheiro do povo brasileiro. Em 1972, a gente ouvia falar que existia um lugar, que hoje eu sei que era a Amazônia, que estavam fazendo uma estrada transamazônica que nunca saiu do papel. Mas que pra isso mataram muitos indígenas. E pra nós, a televisão passava a ideia de que esses indígenas eram monstros. Inclusive a gente falava “então tem que matar mesmo”. Era assim que eu fui educada. Eu ia pra uma escola aqui em que todos os dias, em 1973, quando Belchior cantava já eu sou apenas um rapaz latino-americano, a gente precisava ajoelhar e rezar por Emílio Garrastazu Médici. Então não foi diferente do que a gente está passando agora, do que passou naquela época.
E como é que foi a vivência da pandemia aí na sua região? Olha você sabe que a pandemia na periferia tomou vários rumos. A princípio eu vi aquele medo tremendo. Mas o que acontece? Aqui foi onde se instalou a fome. Então aumentou a quantidade de pessoas que começou a trabalhar entregando coisas. E muita gente morreu na estrada e não da pandemia. Muitas pessoas morreram atropeladas, começaram a fazer entrega de bicicleta. Esse mercado cresceu muito e a gente vê que as mães, a família, descobrem que o jovem vai trabalhar nesse segmento e a partir do momento que ele morre não tem dinheiro nem pro enterro. Então é outra mão de obra escrava. Houve um período que realmente todo comércio fechou e você imagina todo mundo aqui na periferia largado na rua o tempo inteiro como se fosse domingo. Só que quando a gente começou a reclamar, surgiu um movimento horrível porque a polícia vinha aqui e batia nas pessoas. Nós temos aqui do lado uma obra do Rodoanel, abandonada, e as pessoas passaram a frequentar esse Rodoanel e a polícia fez coisas horríveis aqui com as pessoas que estavam caminhando. Fazia as pessoas deitarem no chão e tratava como se fossem bandido. Porque a pessoa está tentando sair de casa e ir em algum lugar porque algumas casas têm muita gente. Em 2021, a gente teve mais casos de morte por conta do Covid. Mas em 2020, nós tivemos mais morte por conta de polícia mesmo. Morte de batidas, de violência, que são coisas autorizadas pelo Estado. Em 2021, a gripe nos castigou mais. Mesmo porque as pessoas já estavam voltando a trabalhar, ônibus lotado, metrô lotado.
Como seus filhos no fim das contas viraram artistas? Quase que eu até destruo tudo isso com as minhas coisas, com as minhas péssimas influências. O Leandro desenha desde muito cedo. Desde muito cedo que esse menino, sem ter feito nem um curso de desenho, sentava e desenhava eu ficava ali falava “nossa, que menino esquisito. Ele desenha”. Eu já estava totalmente desumanizada para a arte. O Evandro é muito ligado à música, ele toca de ouvir. O Leandro já tocava vários instrumentos. E as minhas filhas, minha filha mais velha, a Katia, é de uma habilidade pra consertar coisas… que ela estava sempre com a chave de fenda. E temos a Tiana. A Tiana sempre foi o nosso ponto de defesa. Então cada um tinha a sua habilidade. Isto era uma coisa muito interessante. Eu tinha medo porque eu achava que nenhuma dessas habilidades servia. Quase que preparo meus quatro filhos pra ser empregada doméstica também, né? Então eu dizia “gente isso não dá em nada, a gente tem que ganhar dinheiro. Dinheiro não é arte, arte não é dinheiro”. Eu tinha medo que ficassem com essa coisa de “quero ser artista”. O meu marido queria ser DJ, nunca conseguiu, acabou virando alcoólatra, morreu. E eu também quase morri com esse negócio de correr atrás da arte, de querer estudar. Então eu pensava como hoje pensam a maioria das pessoas que eu conheço na periferia. Cuidado com a arte porque a arte tem um caminho perverso. E não é que a arte tem um caminho perverso. A arte não nos agrega, não nos aceita. Então todo tempo depois da colonização, as nossas artes foram diminuídas diante de outras artes e a gente não consegue alcançar esse patamar, a gente luta pra isso. As nossas artes sempre foram manobras pra nossa própria vida. São coisas que a gente usa pra sobreviver. São coisas que são ligadas a nossa sobrevivência. Quando essa arte é negada, a nossa sobrevivência sofre com isso. Ela é negada também. E a gente é obrigado a ouvir e a viver a vida do outro.
Mas a senhora estava preocupada com a educação? Eu tinha essa preocupação de eles terem só uma mãe, acho que muito mais chata do que a minha mãe foi. Porque a minha mãe tem menos informação. Eu tenho mais informação. Então chegou uma época também que eu tive que baixar a bola e ouvir um pouco. Quando eu vejo e passo a ouvir as letras que o Leandro escrevia, eu comecei ver que o Leandro escrevia o que eu pensava. E aí eu vou ceder pra ele a sala da minha casa. O primeiro lugar onde o Laboratório Fantasma existiu foi aqui na sala da minha casa e aí juntamos todos para dar este apoio ao Leandro, pra essa grande ideia dele, porque ‘que menino, né?’. E foi aqui que saíram as primeiras edições dos primeiros CDs dele. Era aqui que vinha a rapaziada para ensaiar. E eu providenciava o almoço e eu providenciava um lanche. As primeiras equipes de jornalismo vieram aqui. Só que eu comecei a ver aquilo e comecei a pensar “caramba, eu também tinha vontade de fazer, de estar nesse caminho”. E aí chegou a minha vez também. E ainda achava que a minha arte não era boa. Só que aí vem os meus estudos de diáspora dizendo que não, que meus estudos eram pautados nos saberes e fazeres. Pode não estar na academia. Mas está na vivência. Então isto de trazer a comunidade pra dentro de casa, e trazer a arte pra dentro de casa, trazendo jovens pra pra dentro de casa, era uma coisa que poderia fazer sempre, acolher a pessoa para que elas não fiquem entregues a esse capitalismo que destrói.
A senhora falou da ancestralidade, um tema que está inclusive no documentário (produzido por Evandro Fióti, pela Laboratório Fantasma). Explica um pouco o que é essa ancestralidade? Você sabe que eu não sabia o que era? Desde criança eu eu já recebia muitas informações. Como uma fala na minha cabeça. Mas os estudos de Jung e a psicologia dizem que é a fala subliminar. Mas tem uma outra fala para além da subliminar que sempre me impulsionava para frente. Mesmo quando tudo está muito mal aquela voz dizia “você tem que seguir”. E eu chegava a conversar com ela. A minha mãe chegou a me levar pra fazer tratamento psiquiátrico por conta dela. Eu comecei a tomar calmante muito cedo por conta dessa voz. Quando eu comecei a entender essa voz, foi mais quando eu comecei a estudar diáspora. Quando eu cheguei mais próxima de pessoas tanto da Umbanda, como do Candomblé e as próprias pessoas da África. O ancestral é uma pessoa mais velha que já desencarnou, que se encantou e que te guarda. Ninguém está sozinho, sempre tem um ancestral que nos guarda. Só que você pode rejeitá-lo. Se eu dou um passo na direção do meu ancestral, ele se comunica comigo. Se eu der um passo em uma direção contrária, ele também não vai forçar uma comunicação comigo porque eu não estou aberta à comunicação. Como eu passei muito tempo da minha vida em religiões que negam a ancestralidade, pra mim isso era uma coisa horrível.
Como é que funciona isso? É uma voz ou é uma intuição? A voz é a intuição. A todo momento é preciso compreender esta fala espiritual. Mas antigamente, quando eu não compreendia, ela ficava batendo nessa porta a todo momento. Criava em mim uma perturbação. A intuição ficava uma bagunça na minha vida. Isto se reflete na minha casa, na quantidade de coisas que eu comprava. Ah! hoje vou fazer bolo. Não, mas eu vou fazer chinelo. Não. Eu vou fazer isso e aquilo. Porque eu não conseguia escrever. Então eu achava que tinha que fazer qualquer coisa pra eu chegar nesse caminho que eu queria chegar. Mas não era. Eu tinha que parar e ouvir. Comprei fios, linha, tesoura. Também teve a fase dos bolos, a fase das massas, a fase de criar rã. A fase do pão de mel, tenho todo tipo de forma de pão de mel. A gente tentou fazer tijolo. Passei pra cerâmica. Enquanto isso, a escrita não me cabia e foi assim que eu fiz um museu em casa.
O título do documentário remete ao seu legado. Qual é esse legado? O legado são coisas que eu vi e que eu trago e que eu misturo com outros saberes. Eu acho que toda casa deveria ser uma cozinha porque tudo passa na cozinha. Se a gente está cozinhando, se a gente conversa… eu trago muito pra minha cozinha pra falar desse legado. A gente precisa manter alguns saberes para além do saber acadêmico. O saber ancestral é o que nos traz um pão de imediato. Você tem um sabão, você troca por isso, você tem um tempero, você troca por outra coisa. E isto começou nas nossas cozinhas. Porque enquanto mulheres, enquanto mulheristas, a gente ainda está brigando pra se manter vivo. A gente ainda está brigando pra manter vivo os nossos companheiros, maridos, nossos filhos. É isso que nos difere um pouco do feminismo. A gente ainda está lutando pra se manter vivo. E essa luta não é fácil.
Eu li que a senhora gostaria de não ser só a mãe do Emicida. A senhora é quem? Eu não sou a mãe do Emicida. Eu sou a vó do Emicida. Porque eu venho de uma sociedade que os homens podem não parir, mas eles podem acender o sol, se potencializar. Então o Emicida foi parido pelo Leandro. Então o Emicida é meu neto, meu filho é o Leandro.
Adorei. E a senhora quer ser mais do que mãe. É isso? Aliás, como boa parte das mulheres. É sim, eu quero ser mais do que mãe. E pra ser mãe tem uma hora que você tem que se desgarrar. Vai, vai. Vai porque você ficar aqui debaixo da minha saia vai ser o quê? Uma empregada doméstica. Eu não sabia mais do que isso. Precisou que ele fosse à luta para que ele voltasse e falasse: o que você sabe tem importância, você precisa escrever um livro. (Jacira lançou um livro autobiográfico, em 2018, chamado Café)
A senhora é muito nova, né, dona Jacira? Sim, hoje eu me acho muito nova. Mas com os meus vinte, trinta anos eu me achava muito velha. Eu rejuvenesci agora.
Quer ler outras edições do nosso papo de domingo? Aqui estão os links:
Milena Nascimento: na moda, nos chamam porque querem o selo antirracista
Flavia Faugeres: “A BRF foi o maior fracasso da minha vida”
Thereza Quintella: os indícios apontam para uma nova Guerra Fria
Dora Cavalcanti: desigualdade penal está até no telefone pós ou pré-pago
Rita Almeida: “Nova fronteira do preconceito é o público acima de 75 anos”
*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo
Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros
Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos
Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS
Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’
Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’