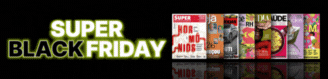Crises bancárias, confiança e o preço da segurança
O que há em comum entre as crises de 1929, do Subprime, do Sillicon Valley Bank e o caso do Banco Master

Esta coluna traz aos leitores de Veja e Veja Negócios informações relevantes sobre o caso do Banco Master, um episódio recente que reacende discussões fundamentais sobre segurança bancária e confiança no sistema financeiro. Mais do que relatar um fato, o objetivo é provocar reflexão: compreender como crises se formam, por que a confiança é o ativo mais valioso de uma economia e de que maneira as engrenagens de proteção como o Fundo Garantidor de Créditos, o Sistema Brasileiro de Pagamentos e a própria atuação do Banco Central, sustentam a estabilidade do país. Em finanças comportamentais, fala-se muito do viés da recência, ou seja, a tendência de supervalorizar os acontecimentos mais próximos e subestimar os que vieram antes. Quando um banco entra em colapso, parece sempre a primeira vez. Mas não é. A cada crise, repetimos os mesmos gestos: corremos aos aplicativos, buscamos sinais de segurança, tentamos adivinhar o próximo desfecho. E, como em um ciclo emocional coletivo, esquecemos que o medo atual é parente direto de muitos anteriores. O caso do Banco Master, por exemplo, não é um ponto fora da curva, mas uma lembrança incômoda de que é a confiança, o ativo mais valioso de um sistema financeiro e o mais volátil. Antes de falar em taxas, investimentos e crises, é preciso lembrar que o sistema financeiro é feito de algo que não aparece nos balanços: confiança. O leitor da Veja Negócios sabe que o mercado é movido por números, mas sustentado por sentimentos. Quando essa base invisível treme, até as instituições mais sólidas desabam. Imagine acordar e descobrir que o aplicativo do seu banco não abre. A conta está ali, mas inacessível. O salário, o investimento, a poupança, tudo suspenso por uma palavra que poucos gostam de ouvir: “liquidez”. Foi essa sensação que milhares de correntistas do Banco Master experimentaram recentemente. E, embora as manchetes tratem o caso como pontual, ele faz parte de uma história maior, a de como a humanidade aprendeu, a duras penas, a transformar o medo em regulação e a desconfiança em arquitetura financeira. Por isso, falar de crises bancárias é, na verdade, falar de nós mesmos. De como reagimos quando o risco deixa de ser estatístico e bate à porta. É também revisitar o que Adam Smith chamava, em A Teoria dos Sentimentos Morais, de “simpatia”, a capacidade de perceber o outro como extensão de nossas próprias esperanças. O crédito, afinal, é isso: uma forma institucional de confiança entre estranhos. É desse pano de fundo humano que parte o texto a seguir. “Cada período da vida é uma edição nova que corrige a anterior, e será corrigida pela próxima.” — Machado de Assis O mesmo se pode dizer do sistema financeiro: cada crise reescreve suas próprias regras, e cada estabilidade é apenas um intervalo entre revisões.
A segurança bancária
O caso recente do Banco Master parece mais um capítulo dessa longa série de reedições da confiança. Um banco que cresceu rápido, ofereceu CDBs com remunerações generosas e apostou em captação digital encontrou, de repente, o limite de sua própria liquidez. A tentativa frustrada de venda ao Banco de Brasília (BRB) e o socorro do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) revelaram um ponto essencial que o leitor talvez negligencie: a segurança bancária não é um estado natural, é uma construção institucional. E toda vez que ela falha, reescrevemos as regras do jogo, quase sempre depois que o estrago já aconteceu.A economia bancária nasceu do desequilíbrio entre quem tem e quem precisa de recursos. O banco é o intermediário que transforma poupança em crédito, criando um elo vital entre o presente e o futuro. Essa engrenagem, porém, carrega uma contradição estrutural: os depósitos são de curto prazo, resgatáveis a qualquer momento, enquanto os empréstimos são longos e arriscados. É esse descompasso de prazos e riscos que torna o sistema vulnerável à perda de confiança, o ingrediente invisível que, quando evapora, converte solidez em colapso.Foi o que ocorreu em diversos episódios históricos. Nos anos 1970 e 1980, o Canadá viveu sua própria quebradeira: bancos como o Canadian Commercial Bank e o Northland Bank ruíram em meio a juros elevados e carteiras de crédito mal avaliadas. A resposta foi reforçar a Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), criada em 1967, que evoluiu de simples garantidora de depósitos para guardiã da estabilidade sistêmica. A lição dos canadenses, validada por décadas de paz financeira depois de 1990, foi clara: sem uma rede de proteção crível, o sistema bancário colapsa pelo medo antes mesmo da insolvência.
As crises brasileiras
O Brasil, naquele mesmo período, vivia sua própria fragilidade. A década de 1980, marcada pela hiperinflação e pela volatilidade cambial, viu emergirem crises silenciosas de liquidez. O Banco Comind e o Banco Auxiliar de São Paulo simbolizaram o auge e o limite de uma era de euforia. O Comind, com mais de um século de história, sofreu intervenção em 1985; o Auxiliar, liquidado no mesmo ano. O “empoçamento de liquidez” que se seguiu paralisou a intermediação financeira e obrigou o Banco Central a repensar as bases do sistema. Em 1986, nasceram os primeiros esboços de um mecanismo de depósito interfinanceiro para redistribuir recursos e equilibrar o fluxo entre bancos, uma tentativa de manter a engrenagem girando mesmo quando a confiança desaparecia. Mas a ausência de um seguro de depósitos formal fazia com que o custo final recaísse sobre o pequeno poupador. Muitos brasileiros perderam suas economias em falências bancárias que jamais foram ressarcidas. Essa memória de perdas, acumulada ao longo dos anos 1980 e 1990, preparou o terreno para a criação do FGC em 1995, um marco silencioso, mas decisivo, da autorregulação moderna no país. De lá para cá, o fundo garantidor tornou-se uma espécie de “bombeiro invisível” sempre acionado quando o fogo da desconfiança ameaça o sistema.A consolidação do Fundo Garantidor de Créditos foi apenas o primeiro passo na modernização do sistema financeiro nacional. Alguns anos depois, em 2002, entrou em operação o Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP), marco da arquitetura financeira contemporânea. O SBP permitiu ao Banco Central do Brasil acompanhar, em tempo real, o fluxo de caixa das instituições financeiras, reduzindo o risco de liquidação e fortalecendo a supervisão prudencial. Pela primeira vez, o país passou a dispor de um sistema que integrava compensação, liquidação e controle de reservas bancárias com padrão internacional de segurança. A liquidez, antes uma variável de difícil mensuração, tornou-se mensurável minuto a minuto — e o risco sistêmico, mais previsível. Essa transparência reforçou a confiança e deu ao BC capacidade de agir preventivamente em momentos de estresse, evitando que pequenos choques de mercado se transformassem em crises de confiança. O avanço seguinte nessa trajetória institucional foi a independência formal do Banco Central do Brasil, aprovada em 2021. Embora o BC já gozasse de autonomia operacional de fato, a lei que lhe concedeu mandato fixo e proteção contra interferências políticas diretas consolidou a transição do país para um modelo de política monetária e supervisão mais previsível e técnico. A independência trouxe não apenas estabilidade de expectativas, mas também reforço moral: o mesmo órgão que acompanha em tempo real a liquidez dos bancos passou a ter instrumentos mais robustos para agir com serenidade e autonomia diante de pressões conjunturais. Ao garantir que o controle da inflação e a defesa da solidez financeira não se tornem reféns de ciclos eleitorais, o Brasil adicionou uma camada de confiança à sua estrutura bancária e confiança, como o texto mostra, é o verdadeiro lastro de todo sistema financeiro. A professora Raquel F. Oliveira, em sua tese de doutorado “Estudo da percepção de risco por parte dos depositantes de bancos: o caso do mercado brasileiro de 1999 a 2006” (disponível em teses.usp.br), observa que há padrões que antecedem o incêndio: expansão de crédito acima da média, deterioração da qualidade dos ativos, dependência de captação curta e euforias de rentabilidade. Seu trabalho mostra que a crise, na verdade, é um fenômeno mensurável e que a prudência regulatória deveria agir antes do pânico, não depois dele. É uma visão científica do que o senso comum chama de “intuição do desastre”.
O aprendizado com a dor
Na esfera internacional, outro aprendizado nasceu da dor. O Plano Brady, lançado em 1989 pelo secretário do Tesouro americano Nicholas Brady, foi a resposta à chamada “década perdida” latino-americana. Endividados, com reservas escassas e bancos credores encurralados, os países da região precisavam de uma saída ordenada. O plano converteu empréstimos bancários em títulos negociáveis denominados de “Brady Bonds” e permitiu descontos de principal, alongou prazos e introduziu garantias colaterais em títulos do Tesouro americano. Essa engenharia financeira não apenas reequilibrou balanços, mas também reabriu as portas do crédito internacional. Foi, em essência, uma terapia de liquidez e confiança, o mesmo remédio que toda crise bancária exige.Duas décadas depois, os Estados Unidos viveriam seu próprio colapso: a crise do subprime. A combinação de crédito fácil, hipotecas de risco e securitização em massa produziu o maior contágio financeiro desde 1929. Quando os preços dos imóveis despencaram, o sistema implodiu: bancos quebraram, seguradoras ruíram, fundos evaporaram. O Federal Reserve respondeu com programas inéditos de liquidez e capitalização, o TARP, as facilidades emergenciais, e o FDIC ampliou garantias a depósitos e passivos. A mensagem foi dura, mas clara: em crise sistêmica, o Estado é o emprestador de última instância da confiança.No Brasil, a crise de 2008 atingiu mais pelo canal de liquidez do que pelo crédito hipotecário. Ainda assim, o trauma global levou à criação de novos instrumentos, como os Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), que ampliaram temporariamente a proteção do FGC. Foi uma forma de dizer aos investidores: “podem confiar, o sistema vai honrar”.E é por isso que, hoje, o caso do Banco Master deve ser visto não como uma anomalia, mas como mais uma página dessa longa narrativa de aprendizado. A liquidez do FGC, hoje superior a R$ 120 bilhões, é o escudo que o país construiu depois de décadas de tropeços. Mas nenhum escudo é eterno: se a supervisão falha ou o apetite por risco cresce demais, o ciclo se reinicia. É o velho roteiro do sistema financeiro, reeditado com novos protagonistas.A história das finanças é também uma coleção de colapsos. Nos últimos cinquenta anos, o mundo assistiu a ondas de quebras que moldaram as regras que hoje protegem os depositantes. Em 1985, no Canadá, os bancos Canadian Commercial e Northland ruíram em sequência, deixando o governo sem opção a não ser reforçar o papel da Canada Deposit Insurance Corporation — uma virada que transformou um país de estabilidade modesta em referência global de solidez bancária. Uma década depois, em 1995, o Barings Bank, o banco mais antigo do Reino Unido, caiu por causa das apostas secretas de um único operador, Nick Leeson. O erro de um homem desfez uma instituição bicentenária e mostrou que falhas morais também quebram bancos. Nos Estados Unidos, a crise das Savings & Loan dos anos 1980 destruiu milhares de instituições e custou cerca de 160 bilhões de dólares ao contribuinte. E, em 2008, com a falência do Lehman Brothers, o sistema financeiro global descobriu que seus elos eram mais frágeis do que imaginava. A sequência — Bear Stearns, AIG, Washington Mutual foi uma coreografia de pânico que só terminou quando o Estado assumiu o papel de fiador da confiança coletiva. Na Islândia, pequenos bancos inflados por ambição internacional colapsaram em 2008, levando junto o PIB de um país inteiro. Na Espanha, o Banco Popular foi vendido por um euro ao Santander em 2017, no primeiro grande teste do novo regime de resolução europeu. Em 2023, os Estados Unidos voltaram a sentir o eco das antigas corridas, com o colapso digital do Silicon Valley Bank e do First Republic, lembrando que, na era dos smartphones, uma corrida bancária pode acontecer em segundos.
Confiança: o cimento moral
Esses episódios têm em comum um elemento que transcende a técnica: a erosão da confiança. Adam Smith, em 1759, escreveu que “nossas ações dependem menos do cálculo frio e mais da aprovação dos outros, do desejo de sermos vistos como dignos de crédito”. Em termos modernos, o “sentimento moral” é o fundamento invisível da estabilidade financeira. Quando a confiança é coletiva, os bancos prosperam. Quando ela se rompe, não há fórmula que salve o sistema. É por isso que seguros de depósito, fundos garantidores e mecanismos de resolução existem: são o cimento moral de uma arquitetura econômica construída sobre promessas. Entender a economia bancária é compreender que ela repousa sobre confiança. Depósitos são promessas, e promessas só valem enquanto todos acreditam que serão cumpridas. Por isso, fundos garantidores, planos de reestruturação e seguros de depósito não são luxos: são parte do pacto social que permite à economia existir. Eles representam o elo entre a racionalidade das finanças e a vulnerabilidade humana de quem apenas quer guardar o que conquistou.“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.” — Clarice Lispector Talvez o que ainda não tem nome seja exatamente isso: o direito de confiar sem medo, de investir sem rezar, de viver sem que o colapso de um banco ameace o trabalho de uma vida.O episódio do Banco Master nos lembra que nenhuma estabilidade é definitiva. Cada crise, seja no Canadá dos anos 1980, no Brasil de 1986, na Wall Street de 2008 ou na avenida Faria Lima de 2025, é apenas uma nova edição do mesmo livro. O que muda é se aprendemos a reescrevê-lo antes que o último leitor, o pequeno depositante, feche as páginas da confiança. Como toda história de confiança quebrada, as crises bancárias também são espelhos do comportamento humano. A quebra de 1929, que mergulhou o mundo na Grande Depressão, continua sendo o retrato mais vívido desse abismo entre euforia e colapso. Para quem quiser entender como o otimismo pode virar ruína e como a fé cega no mercado desmorona uma nação inteira, a leitura de 1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History — and How It Shattered a Nation, de William K. Klingaman, é indispensável. O livro mostra que, por trás dos gráficos e índices, o que se rompe em cada crise não é apenas a liquidez, mas a confiança — o mesmo cimento moral de que falava Adam Smith. “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir.” — Machado de Assis



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Reação do governo Trump à prisão de Bolsonaro acende alerta no mercado
Reação do governo Trump à prisão de Bolsonaro acende alerta no mercado A reação inusitada de Regina Duarte à prisão de Jair Bolsonaro
A reação inusitada de Regina Duarte à prisão de Jair Bolsonaro Por que o Exército não quer Bolsonaro preso no quartel
Por que o Exército não quer Bolsonaro preso no quartel O que Bolsonaro disse a Michelle na superintendência da PF
O que Bolsonaro disse a Michelle na superintendência da PF Desabafo de Ciro Nogueira expõe diferença entre Lula e Bolsonaro
Desabafo de Ciro Nogueira expõe diferença entre Lula e Bolsonaro