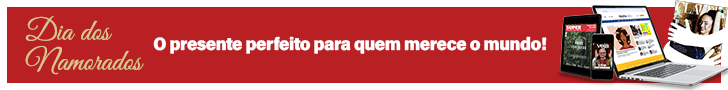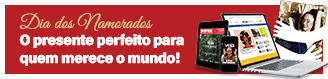Floresta Amazônica está perto do ponto de não retorno, alerta MapBiomas
Queimadas e secas, intensificadas pela mudança climática, aceleram o risco de colapso da floresta

Nos últimos 40 anos, a Amazônia queimou, em média, 7,2 milhões de hectares por ano. No entanto, como destaca Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, “a maior parte dessas queimadas não ocorre dentro da floresta nativa, mas sim em áreas já desmatadas, como pastagens e regiões de uso consolidado. Em média, apenas 22% das áreas queimadas estavam cobertas por floresta.”
Mas 2024 fugiu completamente dessa lógica. Segundo Azevedo, o ano registrou uma mudança drástica no perfil dos focos de calor. “Foram mais de 17 milhões de hectares queimados — e 44% dessa área era floresta. É o maior percentual de fogo sobre floresta já registrado desde o início da série histórica.” O agravamento da situação foi impulsionado por uma seca sem precedentes nas últimas quatro décadas, somada ao avanço do desmatamento, que ainda coloca o Brasil como o país que mais desmata no mundo, mesmo com uma redução de 62% nas taxas entre 2022 e 2024.
Outro ponto crítico é a perda de vegetação secundária — aquela que nasce naturalmente em áreas anteriormente desmatadas. Em 2024, o país perdeu 1 milhão de hectares desse tipo de vegetação. “Estamos destruindo em um único ano o equivalente ao que levamos quatro décadas para recuperar”, alerta Azevedo.
A floresta amazônica, adverte ele, está próxima de um ponto de não retorno. “Se perdermos 30% da cobertura original, a floresta começa um processo de autodegradação. Entre 1985 e 2023, a cobertura vegetal caiu de 92,5% para 81,6% na Amazônia, o que a coloca muito próximo da margem estimada pelos cientistas para seu ponto de não retorno, estimado entre 80% e 75% de vegetação nativa. Esse número não pode continuar caindo.” Além da perda de biodiversidade e impacto no clima regional, isso compromete a capacidade global de limitar o aquecimento do planeta. “Para termos 50% de chance de limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até o fim do século, só podemos emitir 500 gigatoneladas de CO2 entre 2020 e 2100.
É nesse contexto que empresas com grande presença na Amazônia começam a repensar seu papel. A Vale, por exemplo, que opera em 17 países e tem 60% de sua produção concentrada no Pará, afirma ter reformulado sua atuação para reduzir os impactos. “Implementamos uma mineração mais responsável, com operações sem barragens de rejeitos, 93% menos uso de água e uma redução de 50% nas emissões ao cortar o uso de caminhões”, afirma Camilla Lott, vice-presidente de Sustentabilidade da empresa.
Segundo ela, os compromissos vão além das obrigações legais. “Temos metas ousadas, como ajudar a tirar 500 mil pessoas da pobreza extrema até 2030 e nos tornarmos net zero até 2050. Além das áreas que somos obrigados a compensar, assumimos voluntariamente a recuperação e preservação de 500 mil hectares.” Desde 2020, a Vale já recuperou ou protegeu 218 mil hectares, dentro de um total de 1 milhão de hectares que estão sob sua guarda no Brasil.
Apesar dos avanços em algumas frentes, os desafios seguem imensos. A superfície de água na Amazônia está em queda contínua há 40 anos, enquanto as áreas irrigadas cresceram seis vezes entre 2010 e 2024 — um alerta para o efeitos climáticos, com secas que atingem a região, e ao desmatamento que tem diminuído o seu potencial de captura de carbono. Reverter esse cenário exigirá um esforço coordenado entre governos, setor privado e populações tradicionais.
“Precisamos colocar o foco na ação. A COP30 não pode ser mais uma conferência sobre planos — tem que ser o momento da implementação”, diz Lott. Para Tasso, é fundamental construir um plano concreto com contribuições reais de todos os setores, cada um assumindo sua parte na transição para uma economia de baixo carbono. Espero que o debate se concentre em como transformar compromissos em medidas efetivas, com metas claras de descarbonização”, diz.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas