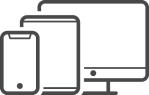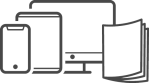A história da dor: de punição divina a um inimigo a ser combatido
Em seu novo livro 'The Story of Pain' (A História da Dor), a historiadora Joanna Bourke investigou como suportamos a dor desde a Antiguidade. Nesta entrevista, ela conta que no passado tratamos o sofrimento com rezas, acreditamos que crianças eram insensíveis e, mais recentemente, nos tornamos vítimas de dores crônicas

Durante a maior parte da história humana, a dor não era sintoma de doenças ou a reação do corpo ao mau funcionamento de um órgão. Era vista como punição divina ou forma de purificar a alma. Suportar impassível as dores excruciantes foi virtude valorizada até os anos 1970, quando a indústria farmacêutica desenvolveu analgésicos e anestésicos eficazes. Operações como amputações ou retiradas de tumores eram feitas sem qualquer alívio para os pacientes: sofrer em silêncio era sinônimo de força, dignidade e orgulho. Aqueles que reagiam com veemência à angústia eram vistos como inferiores, próximo aos animais. No entanto, a partir do momento em que o avanço da medicina tornou possível exterminar a dor por meio de pílulas, o sofrimento perdeu seu sentido místico e social e se tornou desnecessário. Para a historiadora Joanna Bourke, professora da Universidade de Londres, isso é ótimo, embora ela acredite que seja necessário dar um passo a mais na nossa compreensão da dor. “As pesquisas mostram que os analgésico são realmente eficazes e um apoio valioso para os tratamentos. Mas há uma dimensão social, cultural e histórica da dor, capaz de interferir profundamente na vida das pessoas, e às vezes os remédios não bastam para dar conta disso.”
Joanna, que lançou no fim do ano passado o livro The Story of Pain – From Prayer to Painkillers (A História da Dor – Da Oração aos Analgésicos), conta nesta entrevista que o sofrimento físico é mais que uma resposta cerebral e sensorial a certo tipo de estímulo, que os analgésicos não viciam quando receitados a quem realmente precisa deles e que a dor é um mal a ser combatido.
Leia também:
Nove formas de afastar as dores nas costas
Dores crônicas podem ter origem no cérebro
Por que a senhora fala que é necessária uma revolução na compreensão da dor? Temos métodos objetivos de detecção de dor, como os mapas cerebrais, que excluem as narrativas subjetivas. Esse fenômeno complexo fica, assim, reduzido a apenas uma porção da experiência. Precisamos mudar essa visão, pedir a opinião dos pacientes, se quisermos ajudá-los. E isso é importante porque a dor destrói vidas e extingue qualquer fiapo de felicidade. Choramos, nos sentimos presos no corpo e, ao mesmo tempo, estranhos a ele. Conhecer a dor de outras pessoas é a única maneira de formar uma comunidade de simpatia e respeito.
Seu livro afirma que as pessoas sentem dores de formas diferentes. No entanto, se o cérebro humano funciona da mesma maneira para todos, como isso pode acontecer? As experiências dolorosas não surgem apenas de processos fisiológicos e cerebrais. Elas são também negociadas com a sociedade. Desde o nascimento, as crianças são iniciadas no que chamamos ‘culturas da dor’. À medida que crescem, aprendem que algumas lágrimas e não outras merecem atenção: cortes são aliviados, arranhões desprezados. Faz diferença ser um garoto, por exemplo – normalmente, ele precisará aprender a minimizar e suportar sua dor. A cultura tem um papel na decisão do que machuca e de qual é a resposta adequada ao ferimento. A relação entre a gravidade da lesão e a intensidade da aflição tem certas mediações.
Um ferimento maior e mais profundo não é mais doloroso? Pesquisas recentes demonstram que soldados feridos em guerra ou atletas de alto rendimento podem não sentir os machucados mais graves. A extensão da dor está relacionada a outros fatores. Ela pode se manifestar na forma de angústia, para quem está cara a cara com um torturador. Pode vir associada a um sentimento de orgulho, como ocorria com aqueles acometidos por gota no século XVIII. Pode vir como surpresa, sentida por quem tem infarto, ou até como alegria, como relatam mulheres que dão à luz.
Um levantamento dos Institutos Nacionais da Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mostrou que, em 2012, mais americanos de 25 a 64 anos morreram de overdose de analgésicos do que de acidentes automobilísticos. Os dados levaram o país a declarar que está vivendo uma ‘epidemia silenciosa’. É por acreditar que a dor é desnecessária que tomamos tantos analgésicos? Esses dados são exagerados. Sim, há pessoas que abusam e são viciadas nos analgésicos, mas existem evidências de que quem realmente está sofrendo não se torna dependente. Os dados mostram que, quando recebem as receitas, os indivíduos tendem a tomar doses menores que as prescritas. Em outras palavras, a dependência é um problema – mas o risco do vício é praticamente zero quando os analgésicos são dados a quem precisa.
Isso explicaria por que entre 36% e 43% dos americanos e europeus vive com dores crônicas? Em parte. As dores crônicas aumentaram porque nossos corpos não foram feitos para viver tanto. Porém, é preciso lembrar que a dor jamais foi democrática. Historicamente ela está ligada a questões econômicas e sociais: minorias e aqueles que trabalham em duras condições são os mais suscetíveis à dor. Normalmente, essas pessoas recebem menos analgésicos, que são caros, em estágios avançados de dor.




Seu livro traz relatos que revelam que, durante grande parte da história, mulheres, jovens e crianças eram vistos como insensíveis à dor. Por que isso aconteceu? Havia uma ‘hierarquia natural’ de sensações. Na ponta menos sensível da escala estavam os animais, não-europeus, pessoas da classe trabalhadora e crianças. Na outra ponta, os homens europeus. Como aqueles no lado menos sensível não sofriam, podiam ser maltratados – veja a discussão atual sobre os maus-tratos animais. Para mim, a maior surpresa foi descobrir que, por volta de 1870, as crianças eram vistas como completamente insensíveis à dor. Acreditava-se que seus nervos não estavam completamente ‘conectados’. Isso justificava que crianças até dez anos não recebessem alívio para suas dores. Até os anos 1970, mais de metade das crianças entre 4 e 8 anos que passaram por cirurgias como operações cardíacas ou amputações em hospitais americanos não receberam medicação para dor. Isso só mudou por volta dos anos 1980.
Antes do século XX, a dor não era necessariamente sintoma de doenças ou do mau funcionamento de algum órgão. Como ela era vista até então? O corpo era regido pela teoria humoral, em que sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra deveriam estar em harmonia para o bom funcionamento do organismo. O desequilíbrio desses componentes é que geraria as dores. Elas eram ainda influenciadas pelo alinhamento dos planetas, a dieta, o tempo, as relações interpessoais. Nessa época, a dor tinha significados: era vista como punição divina, maneira de purificar o espírito, sinal de força ou orgulho para aqueles que sabiam suportá-la. No século XVII, Descartes mostrou que a dor era a reação de filamentos a estímulos nocivos. O século XIX chegou com a proposta dos nervos e só a partir da II Guerra Mundial começamos a enxergar a dor da maneira contemporânea. A mudança mais significativa é que passamos a lidar com a dor não com rezas ou orações, mas com analgésicos.
Ainda hoje, a capacidade de suportar a dor é vista como uma virtude. Isso faz algum sentido? A valorização da dor como uma virtude é uma herança de épocas que a possibilidade médica de erradicar dores agudas era limitada. A partir do momento em que a o alívio verdadeiro surgiu, a tolerância ao sofrimento deixou de ser uma atitude louvável e se tornou perversa. Despida do misticismo religioso, a dor se tornou um mal em si mesma. Foi quando ela passou a ser uma inimiga a ser combatida e vencida.
Quando isso aconteceu? Até meados do século XX, mastectomias, amputações e cirurgias para retiradas de tumores eram feitas sem analgésico. Alguns médicos acreditavam que não poderia existir vida onde não havia irritações nervosas – sem dor, portanto. Pensava-se que as dores do parto, por exemplo, eram um castigo de Deus ou necessárias para o surgimento do amor materno. Também havia o medo da dependência e a perda da dignidade com o uso de analgésicos, pois suportar a dor era a maior das dignidades. Quando a ciência percebeu que os novos medicamentos eram seguros, por volta dos anos 1950, começamos a olhar para a dor como desnecessária. Quando temos dor, nos sentimos como se tivéssemos sido injustamente escolhidos para sofrer. ‘Por que eu?’ é a pergunta moderna que fazemos. É contrário aos séculos anteriores, quando havia um sentido para a dor – e nosso papel era descobrir qual seria ele.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer
Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos
O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe
Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ
Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ