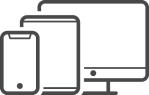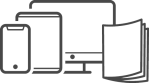Um espelho colossal
'Blade Runner 2049' se alça acima do filme original para estarrecer com seu visual, provocar com suas ideias e transcender com seus sentimentos

De alguns filmes, volta-se ao curso do tempo, quando as luzes do cinema se acendem, da mesma maneira que de um sonho: com estranheza para o lugar ao qual se retorna, e com a frustração de ser impossível descrever a vividez e o empuxo do mundo do qual se saiu — só tendo estado lá para entender. Blade Runner 2049 (Estados Unidos, 2017), já em cartaz no país, desafia a tentativa de pô-lo nas palavras justas. Mas vê-lo é estar lá. À medida que o filme do canadense Denis Villeneuve se fecha em torno da plateia e a envolve no seu mundo estarrecedoramente bem realizado, o espectador esquece que não é personagem e não participa da ação. Esse efeito mimético é, claro, uma ambição constante do cinema, e muitas vezes alcançada. Mas sustentá-lo de forma contínua e aprofundada por quase três horas é uma façanha. Blade Runner 2049 é todo ele uma façanha: uma continuação que se alça acima e além do cultuado filme original — baseado no romance também cultuado de Philip K. Dick — e ocupa uma esfera só sua: a da primeira obra-prima indisputável da ficção científica neste século. Com seu ritmo deliberado, suas escolhas simbólicas e seus cenários monumentais e ao mesmo tempo desoladores, Villeneuve cumpre aquilo a que o gênero se destina: usar um futuro hipotético como um espelho em que o presente é obrigado a se olhar — e, sobretudo, fazer com que o homem enxergue nele o próprio reflexo.
KD6-3.7, ou simplesmente K (Ryan Gosling), é um desses espelhos incômodos. Da mesma forma que Rick Deckard, o personagem de Harrison Ford no Blade Runner lançado em 1982 pelo diretor Ridley Scott, ele é um caçador de replicantes — androides tão convincentes na fisiologia e na complexidade do comportamento que só testes específicos, ou o carimbo no interior do olho direito, revelam não serem eles humanos. Ao contrário de Deckard, porém, em torno de quem persiste o enigma — seria ele ou não um replicante? —, K sabe ter sido fabricado. Também a plateia o sabe desde a primeira cena. A serviço da polícia de Los Angeles, K localiza Sapper (Dave Bautista), um replicante rebelde, nas vastidões ermas e feiíssimas que cercam a cidade. Camuflado em fazendeiro de proteína (uma variedade de vermes clonados é o esteio alimentar desse futuro), Sapper é um remanescente da linhagem Nexus 8, cujas ações, em 2022, mudaram o rumo da história.
Fortíssimos, perfeitos e sem uma data de expiração prevista — o que os irmana existencialmente aos seres humanos —, os Nexus 8 lideraram uma rebelião que apagou todos os arquivos digitais do planeta e levou à falência de sua fabricante, a Corporação Tyrrell, e à proibição da manufatura de replicantes. Há pouco mais de uma década, o fabrico foi retomado por Niander Wallace (Jared Leto), um visionário que, por ironia, é cego, e que obteve a mudança na legislação por ser o detentor das patentes do cultivo sintético de alimentos. Os novos replicantes, como K, são obedientes e cientes da sua servitude. Os Nexus 8, porém, insistem na sua igualdade — ou mesmo na sua superioridade. Têm de ser caçados e eliminados. E, na propriedade de Sapper, K vê algo que chama sua atenção. Trata-se de um fio de Ariadne: desnovelando-o e seguindo-o, K vai adentrar o labirinto que abriga um Minotauro — uma revelação de repercussões incalculáveis para a hierarquia sobre a qual a humanidade mantém seu equilíbrio frágil.
Vê-se agora que o belíssimo A Chegada, com suas imagens indeléveis de naves imensas e silenciosas pairando sobre a Terra, foi o amuse-bouche de Villeneuve. Blade Runner 2049 é o banquete — todos os pratos desse novo filme são regiamente servidos. Trabalhando pela terceira vez com Roger Deakins, um dos maiores diretores de fotografia em atividade (treze vezes indicado ao Oscar, e em nenhuma delas premiado), e com o desenhista de produção Dennis Gassner (cuja concepção é um dos pontos altos de 007 — Operação Skyfall), o canadense Villeneuve ao mesmo tempo imagina como Los Angeles teria evoluído nesses trinta anos que separam o enredo dos dois filmes e expande a ação para cenários nunca mostrados no original. A paisagem é ruinosa. Os edifícios são tão altos e maciços que, vistas de cima (os carros voadores continuam trafegando), as ruas entre eles parecem trincas numa geleira. Ao rés do chão, enfrenta-se ou a chuva contínua, como na visão de Scott, ou tempestades de cinzas: todo o entorno, por centenas de quilômetros, é um deserto calcinado. San Diego, a 200 quilômetros, virou literalmente o lixão de Los Angeles. Em níveis cada vez mais altos, o mar tem de ser contido pelo concreto, numa reprodução desalentadora das praias naturais. E Las Vegas, onde a certa altura K vai encontrar o foragido Rick Deckard (Ford, de volta ao papel), é uma versão futura do Vale dos Reis egípcio, com as decorações gigantescas dos cassinos partidas e meio enterradas na areia, e um teatro onde os ídolos dessa civilização caída — Elvis Presley, Liberace — continuam se oferecendo ao culto, em arquivos holográficos corrompidos.

Nos filmes de Villeneuve, porém, tudo o que é tópico ou político converge de maneira inexorável para o pessoal. Em Incêndios, a guerra no Líbano ditava uma coincidência terrível na vida da protagonista, e nem sua fuga para o Canadá ou sua morte impediam que o círculo se fechasse. Em Sicario, a sujeira da guerra às drogas mudava a própria substância dos agentes da polícia. Em A Chegada, a presença dos alienígenas dava a senha para uma indagação: se nos fosse dado saber como a vida vai progredir no futuro, seria legítimo descartar o que é doloroso nela, ou isso a tornaria menos vida do que ela deveria ser? Da mesma forma, as alusões de Blade Runner 2049 à escravização ou à sub-humanização rapidamente adquirem outras cores. Os protagonistas de Villeneuve viajam sempre para dentro de si mesmos. E nenhum vai tão longe na jornada quanto K, para quem o mais confiável de todos os pontos de partida — a condição humana — nem sequer existe.
Assim, enquanto a paisagem grandiosamente devastada de Blade Runner 2049 serve como metáfora da aridez existencial das relações cada vez mais mediadas pela tecnologia, androides como K, Sapper ou Luv (Sylvia Hoeks) — a replicante que é a mão direita de Niander Wallace —, ou ainda Joi (Ana de Armas), a mulher virtual que K comprou e que anseia por exprimir paixão e afeto, voltam-se para dentro de seu íntimo e buscam um senso de si mesmos. São como filósofos indecisos sobre a natureza de sua essência: seria ela conscrita pela sua artificialidade, ou, maior que esta, pelo fato de sua forma ser indistinguível da humana? A visita de K a uma fabricante de memórias (Carla Juri) — os replicantes necessitam tê-las, ainda que sejam falsas — indica as preferências de Villeneuve, assim como sua isenção na dúvida em torno de Rick Deckard. Há 35 anos Ridley Scott e Harrison Ford batem cabeça acerca do personagem que um criou e o outro encarnou: Scott afirma que ele é um replicante, Ford garante que ele é humano. Blade Runner 2049 não apenas se recusa a decidir o impasse, como o ostenta: se a dúvida existe, é porque a resposta a ela não se tornou relevante para a pessoa que Deckard é.
Muito da imensa beleza de Blade Runner 2049, no entanto, está no caminho que Villeneuve escolhe para enunciar essas questões: não o verbal, mas o visual. Olhos estão por toda parte, ora reafirmando, ora disputando a ideia de que eles traduzem o que vai pela alma (da qual, aliás, os replicantes seriam desprovidos, segundo assegura o status quo). Mais insistentes ainda são as fusões: entre uma pessoa e seu reflexo num vidro, ou entre pessoas reais e pessoas virtuais (o que, numa cena, rende talvez o mais curioso e poético ménage à trois já visto no cinema). No desfecho da busca de K por si mesmo, Villeneuve o leva a um momento-chave do filme original. E então o transpõe, para ir fechar seu círculo num ponto inesperado — em um filme que ele mesmo dirigiu anteriormente, ao qual a última imagem de Blade Runner 2049 se liga de forma sutil, mas estremecedora. Tocar o outro, seja qual for a natureza dele, é a única forma possível de transcendência, diz Blade Runner 2049, enquanto vai transcendendo todos os limites que se haviam previsto para ele.
Replicar a espécie? Não, obrigado

O diretor Denis Villeneuve falou a VEJA sobre o desafio de fazer a sequência do cultuado filme dos anos 80.
O senhor diz que o Blade Runner de 1982 transformou sua vida. Por quê? Eu era adolescente e vi o filme no momento exato em que estava sonhando em não ter de virar advogado, como todo mundo na minha família. Eu fervia com o desejo de ser diretor de cinema, e só de olhar as fotos do filme numa revista, com Harrison Ford naquele mundo épico, senti uma porta se abrir: afinal uma ficção científica feita para gente adulta. Corri para o cinema. Nunca senti nada parecido com aquele impacto visual no meu cérebro e no meu coração.
O senhor teve de contornar essa ligação pessoal para fazer Blade Runner 2049 ou preferiu incorporá-la à criação? Vi o filme de Ridley Scott mais vezes do que sou capaz de contar. O videocassete era a novidade do momento, e eu não tirava Blade Runner do aparelho. Quando aceitei fazer 2049, pensei: “Ora, isso tem de ser usado como vantagem”. Eu queria manter o original na cabeça o tempo todo, para então fazer uma coisa só minha. Ainda estou tão imerso no processo que vou ter de dar uma pausa no trabalho. Preciso de um tempo sem fazer filmes.
Oferecer à plateia algo familiar e ao mesmo tempo romper essa familiaridade não é um equilíbrio fácil. Eu estava decidido a revisitar as raízes do original, mas cuidei para que o roteiro me proporcionasse liberdade. É importante que a plateia sinta que conhece o mundo que você está mostrando, para que você então a jogue numa outra versão, ou numa outra dimensão, desse mundo que ela acredita conhecer. A maior parte dos cenários em 2049 é inédita.
Aonde o senhor crê que a busca pela inteligência artificial vai nos levar? Há gente bem mais qualificada do que eu para discutir essa questão. Mas o que me preocupa é que, quanto mais intenso é o nosso contato com a tecnologia, mais frágil é o nosso contato com a realidade. Acho que, como espécie, estamos longe de um estado em que seria desejável nos replicar e criar seres planejados. Falta-nos o necessário senso de responsabilidade para tanto.
Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2017, edição nº 2551


 A preocupação de Gisele Bündchen quanto ao filho mais velho, Benjamin
A preocupação de Gisele Bündchen quanto ao filho mais velho, Benjamin O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula
O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula Ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia
Ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia Lula caminha para tornar o governo uma “gestão Dilma”, diz Armínio Fraga
Lula caminha para tornar o governo uma “gestão Dilma”, diz Armínio Fraga O péssimo clima dentro da Polícia Federal
O péssimo clima dentro da Polícia Federal