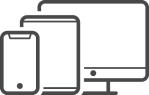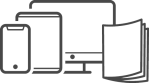Direitos civis reversos
Em 'O Vendido', anárquico romance do americano Paul Beatty, um negro da Califórnia restabelece a segregação racial. A história perturba — e faz rir


Hominy Jenkins é um escravo. Trabalha (não muito, é verdade) em uma pequena propriedade rural nos arredores de Los Angeles. Seu senhor, Eu (sim, este é seu sobrenome), mostra-se condescendente com a indolência do escravo, que de resto já é muito velho para o trabalho duro. Eu — vulgo Bombom — ainda se esforça para atender a um particularíssimo fetiche de Hominy, que exige punições físicas semanais. Avesso à violência, Eu delega as sevícias a uma profissional — a dominatrix de um clube de sadomasoquistas. Hominy foi escravizado (aliás, deixou-se escravizar) em pleno século XXI, quando a Casa Branca é ocupada pelo primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E tanto o escravo quanto seu mestre são negros. É, na aparência, um quadro perverso, perturbador. Mas o leitor de O Vendido é convidado a rir da coisa toda. Aliás, intimado a rir: rápida, ferina, cortante, a prosa de Paul Beatty acumula gags e punchlines com um ritmo de um stand-up de Richard Pryor ou Chris Rock. Beatty, que antes de O Vendido havia organizado uma antologia de humoristas negros americanos, conhece bem a arte. Sua comédia anárquica revisa e reverte toda a história da luta pelos direitos civis no século XX, e o riso ilumina sombras, ambiguidades e ambivalências da conversa sobre raça e racismo nos Estados Unidos.

Com O Vendido, Beatty foi o primeiro escritor americano a vencer o prestigioso Man Booker Prize — até recentemente reservado para britânicos e autores do Commonwealth. Dificilmente se teria escolhido um livro mais ostensivo americano, no universo cultural que se descreve. Hominy, por exemplo, é uma subcelebridade pop típica da TV e do cinema americanos. É o último ator sobrevivente da série Os Batutinhas, curtas-metragens sobre uma turma de crianças meio esfarrapadas que fez sucesso entre os anos 30 e 50. A série enfrentou rejeição nos estados segregacionistas do sul, pois mostrava crianças brancas e negras brincando juntas. No entanto, os esquetes com meninos negros falando um inglês estropiado eram de um racismo escandaloso. Eu, o protagonista, salva a vida de Hominy quando o velho, desolado por já não ter fãs nostálgicos dos Batutinhas batendo à sua porta, tenta o suicídio. E é então que o ex-ator mirim se declara para sempre atado a seu mestre.

É o mestre, Eu, quem narra a história. No primeiro capítulo, ele está sendo julgado pela Suprema Corte americana por tentar reinstituir a segregação racial — e, claro, por ter um escravo. Um circunspecto Clarence Thomas (o nome não é citado no romance, mas se trata do único juiz negro da Corte) encara Eu e lança a pergunta na linguagem de um rapper: “Nego, você tá maluco?”. A narrativa que se segue busca explicar como o “nego” chegou a tamanha maluquice.
Na infância, no subúrbio (ou gueto) de Dickens, Los Angeles, Eu foi criado só pelo pai (nunca saberá por que a mãe os abandonou), um cientista social que usa o próprio filho em experimentos sociorraciais que não seriam aprovados em nenhum comitê de ética. Como resultado, o garoto é eletrocutado, espancado por bandidos e, em um dos episódios mais hilários do livro, abandonado no meio de um lugarejo inóspito do Mississippi, entre presumíveis racistas que afinal não se revelam tão odiosos assim. O pai acaba assassinado por policiais brancos — não antes de diagnosticá-los como “arquétipos autoritários presos na fase anal” —, e Eu se vê sozinho em uma fazenda onde cultiva melancias (entre americanos, há um estereótipo racista segundo o qual negros adoram melancia, e Beatty tira bom proveito humorístico disso) e variedades raras e poderosas de maconha, às quais ele dá nomes acadêmicos como Ataxia e Anglofobia.
O protagonista tem uma visão muito desencantada sobre o lugar dos negros na sociedade americana, mas não é um radical como seu pai. Nem revolucionário nem reacionário, ele se torna, quase casualmente, o idealizador de uma reversão inédita na história dos direitos civis americanos. Hominy declara-se escravo de Eu depois que ele o salva de sua patética tentativa de suicídio. E é para agradar à estranha tara de submissão de Hominy que o protagonista se aproveita de sua complicada ligação afetiva com Marpessa, uma motorista de ônibus, para dar um presente de aniversário ao velho Batutinha: uma viagem em um ônibus com lugares reservados só para brancos (quase não há brancos tomando essa linha, e é preciso contratar uma atriz para que Hominy possa ceder o seu lugar). Em 1955, a costureira negra Rosa Parks se recusou a ceder seu assento a um branco em um ônibus segregado de Montgomery, capital do Alabama. Hominy e seu “mestre” revertem essa conquista histórica. Vem a surpresa: há menos assaltos no ônibus segregado do que em qualquer outro que faz a mesma linha. E então o protagonista tem a ideia doida de levar a experiência adiante, transformando a escola de sua vizinhança (que já não tem alunos brancos) em uma instituição segregada, só para negros e latinos.
A oposição à ideia vem de Foy Cheshire, outro grande achado cômico. Apresentador de TV decadente, Foy se dedica a fazer revisões raciais de clássicos da literatura americana — Tom Sawyer, de Mark Twain, vira Tião Sawyer, em uma boa sacada, aliás, do tradutor Rogério Galindo. Em outro livro de Twain, Huckleberry Finn, Foy faz a contabilidade do número de vezes em que aparece o epíteto racista nigger (“crioulo”, na tradução): uma média de 0,68 vez por página. Em entrevista a VEJA, Beatty ficou um tanto decepcionado ao saber que a média em O Vendido é um pouco inferior: 0,61. “Fiquei em segundo lugar de novo”, brincou.
Pois Foy arma um circo para levar cinco estudantes brancos à escola só de negros, uma versão invertida e farsesca do episódio Os Nove de Little Rock: em 1957, nove estudantes negros, autorizados pela Suprema Corte, tentaram entrar em uma escola segregada do Estado do Arkansas, sob protestos e vaias dos racistas.
Beatty, como se vê por esse rápido esboço de sua comédia desvairada, empurra as barreiras do aceitável, provoca melindres militantes e sensibilidades demasiado certinhas. Ele diz que sua intenção não é chocar o leitor, mas também não se intimida com a vigilância moral sobre a literatura: “Tento não deixar que a sensibilidade de outras pessoas influencie o que eu faço. O Vendido, para mim, nem é um livro controverso”. Mas é uma tremenda sacudida na visão convencional que se tem sobre a trajetória dos direitos civis. Houve progressos, não há dúvida — porém o que o cínico protagonista de O Vendido faz é, a todo momento, questionar a própria noção de progresso (tão cara, com perdão da tautologia, a todos que se definem como progressistas).
Diante de Hominy, o leitor brasileiro talvez lembre do Prudêncio de Memórias Póstumas de Brás Cubas — o escravo que, uma vez alforriado, trata de ter o seu próprio escravo, a quem espanca miseravelmente. Machado de Assis é um ironista, um autor da fineza e do subentendido. Beatty, que vem ao Brasil no fim do mês para participar da Festa Literária de Paraty e não ouviu falar de Machado, é uma criatura do século XXI, alimentado pela cultura pop. Mais ligeiro, seu humor se expressa em frases carregadas de referências, alusões, provocações. Espera-se que seja óbvio que O Vendido não está propondo a volta da segregação ou da escravidão. O livro não deixa dúvidas de que o racismo ainda é um abscesso inchado e sensível na vida americana. Mas o humor também pode ser um instrumento para lancetá-lo.
Publicado em VEJA de 19 de julho de 2017, edição nº 2539

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Atriz está grávida do segundo herdeiro da família Marinho
Atriz está grávida do segundo herdeiro da família Marinho A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula
O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos
O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos O “presente-surpresa” que Roberto Carlos ganhará em seu aniversário
O “presente-surpresa” que Roberto Carlos ganhará em seu aniversário