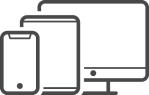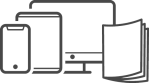Alunos na mira
Só sete dias deste ano letivo transcorreram sem tiroteios entre policiais e bandidos nas escolas municipais das favelas cariocas. Repetindo: só sete dias
Em caso de troca de tiros, siga-se o protocolo: 1) professores e alunos saem de perto das janelas e se abaixam; 2) abaixados, seguem em fila para a porta da sala de aula; 3) dirigem-se aos “pontos seguros”, previamente estabelecidos, e lá permanecem sentados no chão; 4) ninguém sai para a rua até que a segurança seja restabelecida. Essas poderiam ser orientações para o cotidiano de escolas na Síria, no Congo, no Iêmen, mas não. São recomendações da Cruz Vermelha Internacional para o dia a dia nas favelas do Rio. Ao longo de 101 dias deste ano letivo, em apenas sete os colégios funcionaram em paz. A situação chegou a tal nível de insegurança que, a pedido da prefeitura, a própria Cruz Vermelha Internacional — com a experiência de atuação em zonas de conflito em todo o mundo — dará, nesta semana, um treinamento a professores acerca do conjunto de normas a ser seguidas sob a mira dos tiros.
A violência que atinge as escolas nos morros cariocas, intensificada nos últimos meses, tem ligação direta com a derrocada do projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Por falta de planejamento, estrutura e dinheiro, as UPPs são hoje praça de guerra de uma polícia desacreditada contra bandidos cada vez mais armados e desafiadores. Parte dos policiais é recém-chegada, sem raízes nas favelas (e sem filhos nas suas escolas). Para eles, meter bala ali está liberado. Colégios estiveram no fogo cruzado nas favelas nos tempos pré-UPP, mas entre 2009 e 2013, auge da política de pacificação, a artilharia diminuiu significativamente. Pena que esse cenário não tenha durado. Uma pesquisa realizada pelo sociólogo Eduardo Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), mostra que, nos cinco anos áureos das UPPs, o número de escolas fechadas pela violência foi 22% menor do que nos seis primeiros meses de 2017. “A suspensão das aulas é a demonstração evidente de uma ruptura no cotidiano daquelas pessoas”, diz Ribeiro.
Violência e insegurança são problemas que assombram não só a capital, mas o Estado do Rio inteiro. Na quarta-feira passada, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Samara Oliveira, 14 anos, estava no pátio com colegas, em um intervalo entre aulas, quando tomou um tiro nas costas, vindo da fuzilaria entre bandidos. Teve o pulmão perfurado e foi operada às pressas. Mas é nas favelas da cidade do Rio que a tragédia das crianças baleadas sangra com maior intensidade, por uma infelicidade geográfica: segundo levantamento da prefeitura, das 1 500 unidades de ensino municipais, um terço fica em áreas próximas a conflitos armados frequentes. Em um ponto do Complexo da Maré conhecido como Faixa de Gaza, na linha divisória dos territórios de duas quadrilhas, funcionam (quando funcionam) cinco escolas.

A reportagem de VEJA visitou escolas em quatro favelas que são terra de bandidos. Viu e ouviu o terror cotidiano, narrado em tom de desesperança. Em uma escola da Maré, às margens da Avenida Brasil, bocas de fumo negociam sua mercadoria a menos de 20 metros do portão, tudo sob a vigilância de traficantes portando fuzis. No Complexo do Alemão, antes uma vistosa vitrine do projeto de pacificação, o colégio visitado já teve até de fechar por ordem do tráfico no dia do enterro de um bandido. Na Cidade de Deus, a diretora coleciona cápsulas de bala. Do outro lado da cidade, em Acari, a escola em que morreu Maria Eduarda Ferreira, a Duda, de 13 anos, atingida por uma bala perdida na aula de educação física, também é colada a uma boca de fumo; a rua, ao lado de um canal imundo (o “valão”), é rota de carga roubada.
Na escola de Duda ainda se vê o buraco aberto na grade pelas balas. A mãe dela, Rosilene Ferreira, 53 anos, aponta para ele e lamenta: “Ela só queria estudar”. Três meses depois da tragédia, os muros do colégio estão grafitados com mensagens de paz, mas o deprimente cenário no entorno permanece inalterado. Enquanto VEJA estava no local, uma carreta roubada passou em disparada em direção à Avenida Brasil. Pouco antes, um tiroteio tinha deixado dois mortos na vizinha favela da Pedreira. “Tem dia que vejo sete caminhões roubados passarem por aqui”, conta o diretor Luiz Menezes. Toda manhã, entre 6 e 7 horas, ainda em casa, Menezes recebe no celular mensagens sobre a situação na favela. Ao chegar à escola, verifica se há traficantes encostados nos muros. Se houver, pede a eles que atravessem a rua. “É triste, mas um sinal de que está tudo calmo é ver a boca de fumo funcionando”, diz. Neste ano, os alunos já perderam doze dias letivos. “Quando tem tiro, ensinar vai para o segundo plano. A prioridade é sobreviver”, lamenta.
Não é só a localização de uma escola em plena praça de guerra que prejudica as aulas. Muitas vezes ela fica em um ponto sem risco — mas a casa dos alunos, não. Resultado: em dia de tiroteio, a frequência média cai 40%. “O fracasso da política de segurança nega às crianças seu direito mais básico, o de estudar”, resume a diretora Claudia Goldbach, da escola no Alemão. Sua unidade não está em área conflagrada, mas recebe alunos de quatro favelas. Há dias em que apenas pouco mais da metade consegue chegar. “E, quando eles chegam, estão apáticos. Que criança é capaz de se concentrar na aula se passou a madrugada acordada por causa de tiroteio? Tenho alunos de 6 anos com olheiras”, relata Claudia. A estudante Geovanna Larissa, 11 anos, descreve com espantosa maturidade como se sente: “Estou sempre com medo, em estado de depressão”. Lembra-se de um dia em que saiu de casa para comprar pão. “Tinha dois caminhos, e eu escolhi o pior, tipo Chapeuzinho Vermelho. Ouvi muito tiro e uma bala quase me pegou. Eu me joguei no chão, chorando. A gente pode sair e morrer”, diz.

Sempre que a violência sobe, o desempenho cai. Estudiosa do tema, a socióloga Miriam Abramovay alerta para o impacto emocional da rotina de confrontos armados: “As crianças prestam menos atenção e ficam menos curiosas. Além disso, a vulnerabilidade sistemática tem consequências profundas na autoestima”. O ambiente fora da escola se reflete dentro dela, haja ou não troca de tiros em volta. Aline Buccos, diretora do colégio na Cidade de Deus, relata que depois de confrontos na rua os alunos ficam agressivos e brigam mais entre si. Sem falar na gradual impermeabilidade à violência. Na escola de Aline, crianças pequenas usam massinha para replicar os cordões e relógios de ouro e os radiotransmissores dos marginais.
A polícia chegou a cogitar informar aos diretores de escola os dias e horários de operações, mas desistiu por uma questão (absurda) de segurança: os traficantes poderiam vê-los como colaboradores da PM. César Benjamin, secretário municipal da Educação, diz que desde que assumiu o posto, em janeiro, só faz lidar com casos de violência: “Me perguntam se sou secretário de Educação ou de Segurança”. Benjamin insiste, até agora sem sucesso, para que as operações policiais não ocorram na hora de entrada e saída dos alunos. Na semana passada, o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, determinou que a polícia adote “critérios mais rígidos” para a realização de incursões. A ver. Às escolas, resta tentar minimizar o impacto da brutalidade oferecendo aos professores treinamentos que vão do mais básico, os procedimentos de segurança, ao mais complexo — mostrar às crianças que a violência não pode ser reproduzida nem imitada. O curso da Cruz Vermelha Internacional é uma tentativa de reação organizada. Muitas outras são necessárias.
“Será que ela nasceu para viver só treze anos mesmo?”

“Estava no trabalho quando ligaram. Era uma amiga da Maria Eduarda dizendo: ‘Tia, vem depressa, vem agora. Os policiais acabaram de matar a Duda’. Minha filha foi baleada dentro da escola. É inacreditável: ela saiu para estudar, cheia de planos, animada com a vida, e nunca mais voltou para casa. Corri para a escola. Sem sentir o meu corpo, abracei o dela, estendido no chão do pátio. Desde a morte da Duda, vou todo dia àquela escola em busca de conforto, atrás dos bons amigos que ela tinha. Mas a dor não me deixa. Tento não cultivar raiva pelo policial que acertou minha Duda. Prefiro ir para a igreja. Fico pensando: será que ela nasceu para viver só treze anos mesmo? Então era isso? Fazia tempo que a gente queria se mudar para um lugar menos perigoso, para tentar dar à Duda a chance de um futuro melhor. O pai (o pedreiro Antônio Pedro, 62 anos, na foto) estava juntando dinheiro, tinha prometido à filha uma viagem para a Suíça, onde mora o irmão mais velho. A Duda sonhava ser aeromoça. Dizia que um dia ainda ia voar bem alto.”
Rosilene Ferreira, 53 anos, é auxiliar de serviços gerais e mãe de Maria Eduarda, atingida por bala perdida dentro da escola, na Zona Norte carioca, em 30 de março
Publicado em VEJA de 12 de julho de 2017, edição nº 2538


 Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer
Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos
O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe
Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe Quais contraventores amaram se ver na série ‘Vale o Escrito’
Quais contraventores amaram se ver na série ‘Vale o Escrito’