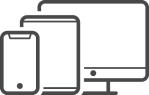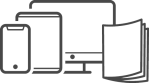A escolha óbvia
Pessoas físicas e jurídicas cometem erros. Aniquilar empresas que confessaram os seus é fazer a opção pela destruição no lugar da prosperidade

Logo após a II Guerra Mundial, uma Alemanha arrasada tentava retomar a normalidade. Entre as medidas com esse objetivo, o governo do pós-guerra optou por preservar as empresas que haviam cooperado com o nazismo. Volkswagen, Hugo Boss, BMW, Deutsche Bank, Daimler-Benz — nenhum desses gigantes, que ajudariam o país a se transformar na potência atual, teria sobrevivido sem aquela sábia decisão.
Empresas geram riqueza. Não só para seus donos e empregados. Elas geram riqueza para parceiros, revendedores, fornecedores, clientes, governos e todos os que orbitam a sua volta. É o chamado ecossistema de prosperidade. Quando se fala de uma empresa, pensa-se apenas na marca. Ou em seus controladores. Poucos atinam que por trás de uma logomarca há pessoas que sobrevivem dela. Um cálculo interessante seria contabilizar a quantia que fica no bolso de seus acionistas e o somatório do que vai para seu ecossistema.
Não é por acaso que países com maior número de multinacionais são também os mais ricos. O Brasil, por breve período, chegou a ter empresas nacionais em papel de destaque no mercado mundial. Hoje, poucas resistem. Na realidade, de acordo com um estudo do Boston Consulting Group, o Brasil só tem duas empresas nacionais — a Vale e a JBS — que são consideradas desafiantes globais, ou seja, com potencial para assumir a liderança mundial no segmento em que atuam.
Esse encolhimento resulta de uma tempestade perfeita: crise no mercado interno, instabilidade política, falta de reformas necessárias e, claro, os escândalos de corrupção sem precedentes que abalaram o Brasil e, consequentemente, o mundo de grandes corporações.
“É justo tratar com mais rigor os pecadores confessos do que aqueles que não confessaram?”
Muitas dessas corporações assinaram acordos de leniência acreditando que poderiam se salvar e ajudar a salvar o país. Infelizmente não é o que tem acontecido. Os acordos deveriam ter por objetivo preservar as empresas que assumiram seus erros e colaboraram com as investigações. Mas, na prática, elas se tornaram reféns da burocracia estatal e estão expostas aos mais diversos tipos de represália.
Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, cometem erros. A diferença é que muitas não os admitem. Essas não são necessariamente mais honestas ou transparentes; apenas não têm motivo para levar a público os ilícitos cometidos. Tanto nos EUA como no Brasil, a situação dos acionistas que estavam no dia a dia do negócio e se envolveram em algum fato ilícito é negociada caso a caso com o poder público, sendo que na maioria das vezes isso resulta no afastamento desses controladores da gestão da empresa. Na J&F, onde exerço o cargo de diretor de compliance, os acionistas, apesar de continuarem com as suas participações, afastaram-se totalmente da gestão. É justo, portanto, tratar com mais rigor os pecadores confessos, que acabaram sendo afastados da administração de suas empresas, do que aqueles que não confessaram? O bom-senso diz que não.
Na realidade, a transparência de uma empresa que já admitiu seus problemas é infinitamente maior que a de outra que tenta escondê-los. Ainda assim, no Brasil de hoje, a população tende a condenar aquela que tomou a corajosa e difícil decisão de abrir seus problemas e colaborar com as autoridades. Precisamos, como cidadãos, apoiar essas atitudes e incentivar que cada vez mais as empresas vejam no caminho da transparência o único percurso possível e sustentável a longo prazo. Arrisco dizer que, no futuro, não haverá espaço para pessoas, físicas ou jurídicas, que não tenham como pilar fundamental a integridade e a transparência não só para com clientes e fornecedores, mas também para com toda a sociedade. Felizmente, acredito que esse é um caminho sem volta e que a jornada, apesar de longa, já se iniciou.
Voltando para o nosso presente, um empresário ou empresária brasileira que pensa em cooperar com a Justiça nos dias atuais tem de considerar não só os problemas naturais que uma colaboração pode gerar, como desgaste da reputação, queda de faturamento e perda de talentos, mas também a burocracia do Estado e a insegurança jurídica a que os acordos no Brasil estão sujeitos. Um empresário em suas atividades regulares já encontra dificuldades suficientes para desistir logo no início de sua empreitada, caso não tenha consigo um aguçado senso de perseverança. O índice de mortalidade de empresas no primeiro ano de existência mostra isso. Imaginando que se some a isso uma empresa optante pelo processo de colaboração, necessariamente adicionamos um grau de complexidade e de burocracia que requer da empresa não só resiliência e criatividade, mas também recursos quase ilimitados e uma enorme predisposição para lidar com cenários imprevisíveis. Esses cenários vão desde uma pluralidade infinita de autoridades até represálias por parte de pessoas ou entidades impactadas pelas colaborações. Como se a situação por si só já não fosse suficientemente desafiadora, a empresa ainda tem a tarefa de continuar operando e competindo num mercado em que a maioria de seus concorrentes vê no processo de colaboração uma oportunidade de ganhar espaço e, se possível, aniquilar o concorrente vulnerável e enfraquecido.
Empresas colaboradoras deveriam ser vistas como entidades que fazem uma contribuição fundamental à democracia e à evolução da sociedade como um todo. Uma vez colaboradora, a empresa ajuda a melhorar o segmento em que atua e a implementar as melhores práticas nos seus negócios — de fornecedores a clientes. Como utilizado amplamente no futebol, o famoso termo fair play é justamente isso: visa a estabelecer regras claras e comuns a todos os players de um determinado segmento, possibilitando uma competição justa e, por consequência, maior transparência para todos.
Pergunto-me o que teria acontecido com a Alemanha se, em meados de 1945, uma miopia governamental, em nome de uma suposta justiça histórica para atender ao volúvel clamor público internacional, tivesse decidido aniquilar as empresas do país. Imagino que a resposta seja óbvia. É de esperar que as autoridades brasileiras sigam o exemplo alemão e, em vez da destruição, optem pela preservação da fonte de prosperidade.
*Emir Calluf Filho é advogado, mestre em direito internacional pela Universidade de Navarra e diretor de compliance do Grupo J&F
Publicado em VEJA de 19 de setembro de 2018, edição nº 2600


 Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo
Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham
Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown
Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’
Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’ A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã