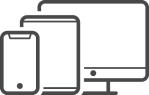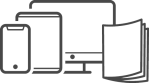‘Brasil vive um momento de mudança’, diz Sandra Kogut em Toronto
Cineasta brasileira apresenta no festival ‘Campo Grande’, seu segundo longa de ficção, sobre como uma família rica lida com duas crianças deixadas na porta de casa





Diretora do documentário Um Passaporte Húngaro (2001) e de Mutum (2007), Sandra Kogut volta a Toronto na 40ª edição do festival com Campo Grande, seu segundo longa de ficção, exibido na seção Cinema Contemporâneo Mundial. No filme, Regina (Carla Ribas), moradora de Ipanema, recebe a contragosto a pequena Rayane (Rayane do Amaral), de 5 anos, deixada pela mãe na porta do prédio, de posse de um papel com o endereço de Regina escrito.
LEIA TAMBÉM:
Ridley Scott retoma grande forma em ‘Perdido em Marte’
Só atuações salvam dramas sobre transgêneros
‘Demolition’ abre o Festival de Toronto sem força
Filme com Mariana Ximenes vai ao Festival de Toronto
Logo, aparece também Ygor (Ygor Manoel), irmão de Rayane. Por ela mesma, que enfrenta um momento pessoal difícil, Regina se livraria logo dos dois, mas a sua filha adolescente, Lila (Julia Bernat), pede para deixar as crianças dormirem uma noite em casa. Regina e Lila, cuja relação está estremecida, vão procurar resolver o problema, tentando descobrir quem é essa mãe, onde está e por que deixou as crianças especificamente na sua casa. Kogut conversou com o site da VEJA sobre seu filme:
Em Mutum, seu personagem principal é uma criança. Agora, você usa duas crianças, apesar de o protagonismo ser dividido por elas com a personagem Regina, uma adulta. Por quê? Eu também achei engraçado dois filmes seguidos com criança. Na verdade, a ideia deste filme surgiu quando eu estava fazendo o Mutum. Tinha uma cena, que eu achava a mais emocionante, quando a mãe dá o filho para um estranho. Um filho que ama. Faz porque acha que está dando a ele uma oportunidade de vida melhor. Essa ideia de amor incondicional é uma coisa que ficou na minha cabeça. Porque é uma situação que a gente ouve falar muito no Brasil. Quando acabou o Mutum, comecei a pesquisar o assunto, recolher histórias para este filme.
O longa fala bastante de diferenças sociais no Brasil. Como caminhou para isso, para falar desses dois mundos? A gente cresce com esses dois mundos no Brasil, dentro de casa. Em certas situações, eles são claramente separados, mas a casa é um lugar de interseção, onde a fronteira é porosa, porque há também relações afetivas. Então, tem um vazio entre esses dois mundos, mas um vazio embrulhado por afeto. É complexa essa relação. Para quem cresce no Brasil, esse é um assunto natural. O que realmente me conquistou nessa história (escrita por Sandra com o roteirista Felipe Sholl) é que ela fala da questão social, da diferença de classes, mas também da afetividade. E tem ainda outra coisa: a nossa vida pode mudar de repente. E isso vale para todo o mundo, rico ou pobre. O Brasil vive um momento de muita mudança, para o bem e para o mal. E elas trazem consequências em muitos níveis para as pessoas.
Você passou um bom tempo morando fora. Acha que esses momentos de distanciamento do Brasil a ajudaram a fazer o filme? Acho que sim. Quando comecei a escrever o filme, eu pensava em um Brasil da minha experiência, o Brasil onde cresci. E dali, à medida que o filme foi tomando forma, essa história foi se alimentando do que está acontecendo agora no país. É uma ficção, mas ao mesmo tempo é construída com coisas que de fato existem.
Você usa muitas imagens de construção no filme. Por quê? É um momento muito particular da cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, não é só ela que está nessa situação, de muita transformação, muita obra. Acho que isso materializa as mudanças e as fragilidades na vida das pessoas.
O que mais chama a sua atenção nesse momento de transformação? A velocidade com que as coisas mudam e a inconstância. Nada parece muito planejado. Tem uma história engraçada: a gente foi fazer uma cena no ponto de ônibus e botou um ponto de ônibus cenográfico em uma rua movimentada. Foi o tempo de eu ir ali do lado falar com os atores, e os ônibus começaram a parar no nosso ponto. As pessoas desciam. As pessoas pegaram ônibus na nossa parada. Em menos de uma hora, o ponto foi incorporado à cidade. Eu não fecho rua, não isolo. Gosto de me misturar com o que está acontecendo, de ficar nessa fronteira de documentário com ficção. Mas neste filme particularmente isso foi a extremos, pelo nível de caos em que estava na cidade. Acho isso fascinante.
Você vem do documentário. Como é sua relação com os atores? É engraçado porque, no fundo, há uma maneira muito próxima entre o meu jeito de trabalhar nos filmes de ficção, com os atores, e o que faço nos documentários. Acredito que, para uma situação ter força, ter verdade, ela precisa ser necessária para quem vive aquilo. E isso vale para os dois. Quando o que está acontecendo é importante para quem está ali, a câmera não vai atrapalhar, no documentário ou na ficção. A outra coisa é que eu só faço filmes porque adoro pessoas e histórias. Aqui, a gente trabalhou de um jeito um pouco diferente. Os atores não leram o roteiro. Ninguém sabia o que ia filmar a cada dia. E a família morou no apartamento antes de as filmagens começarem, e formou um grupo. Todo mundo ia ao set, mesmo que não tivesse cena para fazer.
Como encontrou as crianças? Quando se quer ser responsável e séria, é preciso procurar muito, testar um monte de gente. Mas é como se apaixonar. Você logo sabe que é aquela pessoa. O Ygor foi o primeiro menino que testei. Fiquei louca. Mais engraçado ainda é que ele e a Rayane, que vieram de lados opostos da cidade, se adoraram.
Mas eram crianças com experiência? Foi uma procura bem variada, mas não queria ator-mirim, que já tem um currículo. Porque acho mais difícil de trabalhar. Prefiro criança fresca. Procuramos em ONGs, em escolas. A Rayane é de Campo Grande.
Acho interessante como você mantém um certo suspense sobre a mãe, onde ela está, por que deixou as crianças ali. Sim, achava importante porque a Regina também não sabe. As crianças, que sabem, aterrissaram naquela situação sem nenhuma escolha. Gosto de estar com os personagens. Não gosto quando o filme ganha dos personagens, quando a gente fica sabendo mais do que eles. Eles ficam meio reféns, a gente se sente superior.
A montagem também é interessante, porque você alterna o foco, às vezes um personagem some para dar mais visibilidade a outro, ou outros. Eu queria fazer um filme em que desse para entender todo mundo. Muitas vezes, você fica com o protagonista e toma partido dele. Essa é a regra. Eu realmente achava que esse assunto, esse universo, seria mais legal se a gente pudesse compreender no todo. Esse desejo me levou a essa estrutura. Mas, já na época do roteiro, eu via que era um pouco fora do padrão, às vezes ficava um pouco preocupada.



 O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula
O problemão que Alexandre de Moraes arrumou para Lula A preocupação de Gisele Bündchen quanto ao filho mais velho, Benjamin
A preocupação de Gisele Bündchen quanto ao filho mais velho, Benjamin Lula caminha para tornar o governo uma “gestão Dilma”, diz Armínio Fraga
Lula caminha para tornar o governo uma “gestão Dilma”, diz Armínio Fraga Ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia
Ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia O “presente-surpresa” que Roberto Carlos ganhará em seu aniversário
O “presente-surpresa” que Roberto Carlos ganhará em seu aniversário