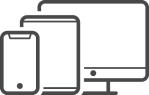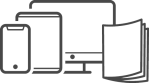“Não sou o ‘novo negro'”, diz o escritor americano Paul Beatty
Uma das estrelas da próxima Festa Literária de Paraty, o autor do premiado "O Vendido" fala de humor, de racismo e de seu emprego da infame palavra "nigger"

Paul Beatty, 55 anos, foi o primeiro americano a vencer o prestigioso Man Booker Prize, no ano passado, com O Vendido, romance hilário e provocativo que está sendo lançado no Brasil no pacote de estreia da nova editora Todavia. O narrador e protagonista do livro é um negro de um subúrbio esquecido de Los Angeles que, por uma série de circunstâncias, se torna “proprietário” de um escravo idoso e preguiçoso – Hominy, ex-astro mirim da série de curtas Os Batutinhas. Esse anti-herói anárquico dedica-se a reverter várias realizações históricas do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos no século XX. Ele cria assentos só para brancos em um ônibus, e consegue segregar também uma escola de ensino médio. A prosa ágil de Beatty, em que cada frase é carregada de citações, alusões, referências a fatos históricos, clássicos literários ou itens obscuros da cultura pop, torna esse enredo doidivanas ainda mais explosivo e, sobretudo, cômico. Beatty – que virá pela primeira vez ao Brasil no fim do mês, para participar da Festa Literária de Paraty – falou com VEJA, de Nova York, por telefone. Uma conversa desassombrada sobre literatura negra, era pós-racial (seja lá o que isso queira dizer), humor, e as palavras “incorretas” de Mark Twain.
O Vendido é um romance potencialmente controverso. O senhor teve de vencer a autocensura para escrevê-lo? Havia, em algum momento, uma voz na sua cabeça dizendo “não, isso eu não posso dizer”? Não, não! Eu tento não deixar a sensibilidade de outras pessoas influir no que eu faço. Não estou dizendo que sempre consigo isso, mas eu tento. Quando você diz que O Vendido é controverso… sim, eu consigo ver por que você diz isso, mas, para mim, não parece tão controverso. Eu já dei aula para uma garotada do ensino médio, e recomendava textos com palavrões, e eles ficavam espantados com isso. Eram palavrões que eles usavam todo o dia, que vinham usando a vida toda, mas, no texto, soavam escandalosos. E creio que nós, como leitores e escritores, às vezes também operamos com essas noções falsas de decoro. Espero que meu livro seja intrigante, que convide ao pensamento, mas não acho que é controverso. Tenho a felicidade de escrever em um lugar no qual posso dizer virtualmente o que quiser. No máximo, vou pagar o preço de perder leitores. Mas ninguém vai me jogar na cadeia.
Uma característica da sua prosa, que contribui muito para o humor do livro, são as frases carregadas de referências, alusões, informações. Uma personagem secundária que aparece no primeiro capítulo não usa só uma pashmina: ela usa uma pashina “à la Toni Morrison”. Como o senhor chegou a esse estilo?
Eu levei cinco anos para escrever esse livro. Nada é fácil, tudo é esforço.
Com perdão do clichê, o senhor considera que encontrou a própria voz como escritor?
Não sei. Parei de pensar nisso. Não se trata de achar a minha própria voz, mas de achar o tom do livro. Especialmente quando escrevemos na primeira pessoa, é preciso um tom específico. Todos meus livros são narrados por um personagem, e espero que cada um deles seja diferente, embora certamente existam similaridades. Eu já escrevi poesia, e isso ajuda a combinar diferentes linguagens, diferentes sensibilidades, tudo em uma só frase. É o desafio de encontrar as palavras certas.
Já que falamos de controvérsia: em O Vendido, o palavra racista “nigger” (na tradução brasileira de Rogério Galindo, é quase sempre “crioulo”) aparece muito. Há uma cena em que Foy Cheshire, uma celebridade decadente que se dedica a fazer versões “corretas”de clássicos da literatura americana, contabiliza o número de vezes em que a palavra nigger aparece em As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Ele calcula que a palavra aparece em média 0,68 vezes por páginas. O senhor fez um cálculo parecido para O Vendido?
Não, não contei…
Pois eu contei. No seu livro, nigger aparece 0.61 vezes por página.
O,61? E qual era mesmo o número do Mark Twain?
0,68.
Ah, Twain ganhou essa. Fiquei em segundo lugar, de novo. Mas isso é engraçado.
Trata-se de uma palavra que bate em nervos sensíveis, não?
Sim, isso é bem óbvio. Há palavras que carregam história, e ódio, e crueldade. Tenho certeza que há palavras assim em português também.
Sim, claro. Perdão pela obviedade.
Tudo bem.
Mas a questão é: o fato de uma palavra ser tão carregada não significa que um escritor não deva usá-la.
As palavras estão aí, e cada um usa as palavras que deseja usar. Acho que devemos ter certa consideração. Eu não escrevo pelo choque – não uso essas palavras para chocar as pessoas. Mas o que eu discuto é o modo como essas palavras tocam a sensibilidade de tanta gente, e por que é assim, e se essas palavras têm sempre o mesmo sentido em qualquer situação. Quando tentamos enterrar essas palavras, o que estamos enterrando de fato? É disso que fala essa passagem do livro sobre Mark Twain. Pois, se não me engano, já houve quem tenha reescrito Mark Twain para deixá-lo “politicamente correto”, seja lá o que isso significa. Um amigo meu, negro, escreveu um ensaio sobre como ele ama Twain, mas como odiou ler os livros dele para os filhos, por causa da palavra. E isso me pareceu tão esquisito. Certo, eu não tenho filhos, mas o caso é que o livro é apenas aquilo que ele é.
O narrador de O Vendido, que se chama Eu, é um homem negro que propõe a volta da segregação racial e é julgado por isso na Suprema Corte americana. O curioso é que ele não é exatamente um radical, mas sim um cético. Ele parece não acreditar em nenhum discurso social, venha de onde venha. Ou assim me parece. Como o senhor vê o personagem?
Esta é uma boa questão. Eu na verdade não penso muito a visão que tenho dos personagens. Acho que ele é, sim, muito cínico. Ele é cínico a respeito de tudo, menos de Marpessa (a motorista de ônibus por quem Eu é apaixonado). Mas em parte é assim porque ele foi colocado nesse trilho por seu pai. E, depois que o pai morre, espera-se que ele continue levando adiante o trabalho do pai. Ele está basicamente tentando criar um espaço para si mesmo, e por extensão, espaço para a vizinhança, para seus próximos. É isso que ele de fato tenta fazer ao longo de todo o livro: criar espaço para ser o que ele deseja ser. Não sei se ele consegue. É um pessimista, mas, no fundo de seu pessimismo, ainda há uma nota de… Bom, não quero dizer “esperança”… Enfim, eu nem gosto de falar muito sobre meus personagens.
Nas páginas finais do livro, ele se mostra especialmente cético sobre a eleição de Barack Obama.
Isso não diz respeito a Obama, necessariamente. Ele está questionando o que é progresso, o que é história, o que é dívida histórica, o que é interesse próprio. A questão não é Obama – que nem é Obama, é só o “negão” (Barack Obama não é nomeado no livro) – mas como interpretamos sua eleição.
Outro grando personagem é Hominy, um ex-ator infantil da série de curtas Os Batutinhas que se deixa escravizar. Ele pede para ser desprezado, mas, ao mesmo tempo, há uma estranha dignidade nele, não? Espero que sim, espero que ele tenha suas complexidades. O interessante ali é a ideia de um escravo masoquista, o tipo de pessoa que gosta de ser espancada. Geralmente, quando um personagem assim aparece em livros ou filmes, é o homem de negócios branco que faz muito dinheiro e curte uma dominatrix. Mas o que significa uma pessoa submissa, que gosta de se fazer submissa? É um tipo de poder, um tipo de liberdade? De outro lado, o personagem também me permite explorar o modo como os negros foram retratados ao longo da história de Hollywood. Nossa reação instintiva a essas coisas é acusar o modo como o cinema retratou o negro sempre como um bufão. E isso acontecia mesmo, não há como negar. Mas, sob essa superfície, também há outras coisas mais interessantes: gênio cômico, comédia física, comentário social. Está tudo lá, mas nós não somos ensinados a ver essas coisas. Essa é um questão importante para Hominy: como ele é afetado pelo fato de as pessoas só o verem superficialmente, e não reconhecerem o seu talento.
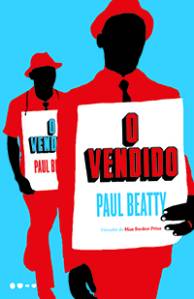
Os episódios mais racistas de Os Batutinhas são descritos ao longo do livro. No entanto, ninguém questiona o humor desses episódios. As pessoas riem daquilo tudo. Isso levanta uma questão moral: é moralmente correto rir do racismo?
Eu não tenho resposta para isso, cara. Você ri do que quiser rir. Mas é engraçado: outro dia estava conversando com minha mulher, e ela me dizia que gosta muito de Under My Thumb, dos Rolling Stones. Bom, a letra dessa canção é terrivelmente misógina. Mas ainda há algo ali que minha mulher não consegue recusar ou negar. Essas dissonâncias são comuns.
Algumas resenhas de O Vendido disseram que o romance trata de um mundo “pós-racial”. Isso faz sentido para o senhor?
Não. Eu acho que todo mundo está sempre querendo viver em um pós-alguma coisa. Ultrapassamos tudo. Somos pós-pós-pós. Tento não pensar muito nessas coisas. Mas me incomoda um pouco que, a cada vez que lanço um livro, há uma tentativa de me definir como “o novo negro”. A gente tem um novo negro a cada cinco anos! E só se faz isso com a literatura negra. Ninguém fala do “novo latino”.
Lázaro Ramos, um ator brasileiro, lançou recentemente um livro de memórias, Na Minha Pele, no qual diz que não aceitaria um papel em que aparecesse com uma arma de fogo na não, para não reforçar a imagem do negro violento. O que senhor acha de posturas como essa? Entendo muito bem o que ele quer dizer. Existe um problema inegável na forma como se representam os negros. E ele toma suas próprias decisões, claro. Agora, eu evito dizer que nunca vou fazer isso ou aquilo. Pois, para quem é ator, um dia pode aparecer um grande papel em que o cara negro usa uma arma. Pode ser um papel que não tenha nada a ver com esses problemas de representação, ou que tenha a ver com eles mas seja mesmo assim um tremendo de um papel. Não é tanto o ato de carregar uma arma, mas o que isso simboliza nos filmes. Qual o contexto em que o cara negro porta uma arma? O estereótipo nos limita, claro. Mas tudo depende do grau em que você deixa o estereótipo limitar você. Tudo depende das escolhas que fazemos, como indivíduos.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer
Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer Corrupção leva CNJ a avaliar plano de intervenção no Judiciário da Bahia
Corrupção leva CNJ a avaliar plano de intervenção no Judiciário da Bahia A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça
Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe
Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe