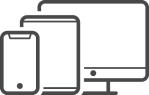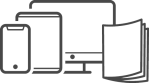Eva Wilma: ‘Já fiz muita mocinha, agora faço a velhinha da história’
Em cartaz no teatro, atriz de 84 anos relembra trajetória e a arte de fazer cultura no Brasil. Sobre aposentadoria, garante: 'Parar para quê? Não morri'

Produções culturais que trazem em seu elenco atores veteranos ou que se concentrem em falar sobre a velhice não são lá muito comuns, mas isso não é problema para Eva Wilma. A atriz de 84 anos, que soma mais de sessenta de carreira, considera que tudo tem seu tempo. “É muito mais difícil falar da velhice sem cair no pieguismo”, diz em entrevista a VEJA. “Eu costumo dizer: ‘Não posso fazer a mocinha da história, acabou. Já fiz muita mocinha, agora eu faço a velhinha’. Tem bastante assunto para tratar, mas não dá para ser a grande protagonista e você não pode se preocupar com isso.”
Em alguns casos, porém, dá sim para ser a grande protagonista. É o caso de Eva e Suely Franco na peça Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa, que fica em cartaz no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, até o dia 25. A comédia escrita por Mario Brasini em 1977 e encenada outras duas vezes desde então traz apenas duas atrizes contracenando. Representam amigas de longa data que se reúnem semanalmente para conversar sobre a vida, mas, em uma tarde, acabam desenterrando segredos e acertando as contas. É um espetáculo quase sem cenário, ancorado na força de suas duas protagonistas, que fofocam, dão risada, gritam e carregam o público para dentro da delicada relação entre elas.
Na entrevista a seguir, Eva fala sobre o espetáculo, a participação na novela O Tempo Não Para, o início da carreira e suas personagens mais marcantes. Confira:
O que a atraiu em Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa? O que me agrada muito é que foi escrita por um autor brasileiro e que provou a que veio, porque já foi encenado antes com muito sucesso. A primeira vez foi bem no passado, com a madame Henriette Morineau e Eva Todor. A segunda vez, em 2002, com a Beatriz Segall e Miriam Pires, que depois foi substituída pela Nicette Bruno. Agora é a terceira encenação. A peça trata de muita coisa. Ela se passa entre duas amigas de longa data, e acaba se tornando um tratado sobre essa faixa etária. São duas velhinhas, têm muita coisa vivida em comum e muitas contas a acertar, o que é feito durante o espetáculo. Também tem muito humor. Na última terça parte, quando chega mais perto do drama, ela consegue não perder o humor, alcança o humor poético. O acerto de contas fortalece a amizade delas.
A peça é muito dependente da relação de suas duas protagonistas. Como é sua relação com a Suely Franco? Vi quase tudo o que ela fez e sempre gostei, principalmente do tipo de humor e talento, e ela também viu o que eu fiz. Quando me chamaram para fazer essa peça, queriam saber com quem eu gostaria de fazer, e citei o nome dela como uma das primeiras. Fiquei contente quando ela topou, porque eu sempre admirei o trabalho dela e é muito gostoso a gente contracenar.

Fazer novela ou cinema dá tanto prazer quando estar no palco de um teatro? Em 1954 eu comecei os três veículos em espaço cênico livre, falo isso porque meu começo foi no teatro de arena, não tinha nem sede, a gente fazia espetáculos em museus, em fábricas, festas, onde nos contratassem. Sempre digo que no cinema, por exemplo, se não se ligar no diretor está perdido, porque você corre o risco de no primeiro dia de filmagem gravar a primeira cena de aparição da personagem e a morte, para aproveitar o cenário. Quem tem tudo isso muito nítido na cabeça é o diretor. A televisão é fascinante por causa da velocidade, é um exercício e uma grande escola. Mas é perigosíssimo cair na armadilha da imagem. Tem muitos jovens que caem nisso, representam para a câmera e se esquecem de contracenar com o colega, de falar baixinho. Mas a escola verdadeira do ator é no espaço cênico livre, ao vivo e de corpo inteiro. Se eu ficar fazendo só cinema e televisão, cinema e televisão, tem um hora que falo: “Para, volta para a escola”. Senão eu corro o risco de não conseguir evoluir.
A senhora esteve no ar recentemente na novela das 7 O Tempo Não Para e, nos últimos anos, tem escolhido papéis menores na TV. Isso é normal para a faixa etária, mas não deixa de ser estimulante. Até porque era uma personagem difícil, uma cientista especializada em criogenia. O Tempo Não Para tem um autor (Mário Teixeira) relativamente novo na televisão e uma proposta ousada. Quando me chamaram para fazer a novela, eu falei: “Meu Deus, isso não vai dar certo, o pessoal vai pensar que é todo mundo louco”. Mas deu, porque tanto o autor e o diretor geral (Marcelo Travesso) têm um entrosamento de criatividade muito legal. Deu certo e foi muito prazeroso. O básico da carreira do ator é sentir o prazer do exercício, do ofício.
Há algum projeto em vista para a TV? Tive uma sondagem fascinante. Não posso adiantar muito, mas um grande jornalista que eu admiro me fez uma proposta de trabalho. São histórias verídicas fascinantes e femininas, o assunto é mulher. Mulheres em condições muito específicas, muito difíceis. Já me mandaram livros, um calhamaço desse tamanho para entender do que se trata. Além disso, filmei um episódio da segunda temporada de Os Experientes, mas ainda não foi ao ar. É um projeto do Fernando Meirelles e dirigido pelo filho dele, Quico. Adorei a proposta dele, um desafio sensacional, porque ele aborda uma história comum, de encontros e desencontros, que se passa em uma clínica de idosos, mas usando muito a linguagem shakesperiana.

Vemos muitas séries sobre jovens e para jovens, enquanto há poucos projetos que procuram contar histórias sobre a terceira idade, como é o caso de Os Experientes. Por que acha que isso acontece? É muito mais difícil falar da velhice sem cair no pieguismo. A dramaturgia em geral tende a tratar da juventude, é evidente. Eu costumo dizer: “Não posso fazer a mocinha da história, acabou. Eu já fiz muita mocinha, agora eu faço a velhinha”. Tem bastante assunto para tratar, mas não dá para ser a grande protagonista e você não pode se preocupar com isso, mesmo que a personagem apareça pouco. O importante é você encontrar o seu estímulo, a sua criatividade.
Este ano a senhora também fez uma turnê de Casos e Canções, em que canta alguns clássicos da música brasileira. De onde surgiu o projeto? Isso foi um desafio gostoso, agradável. Minha formação musical foi muito forte, minha mãe era pianista e meu pai era solista de igreja, não era profissional, mas adorava cantar e tocava piano de ouvido. Eles acabaram me proporcionando aulas com a grande mestra Inezita Barroso. Meu filho (John Herbert Riefle Buckup) caminhou para a música também. Ele compõe, toca e canta. Ele me estimulou a topar esse projeto, deu o nome, escolheu um grupo de cinco amigos músicos, fantástico. As músicas das quais participo fui eu que escolhi, e eles toparam. Sinto que quando o ator tem essa chance, tem isso dentro de si, deve cantar, dançar e representar. Não necessariamente você tem essa obrigação, mas ainda ouso poeticamente dizer que sempre que eu represento tem uma música dentro de mim.
Qual seria a música de Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa? Nossa! Tem bastante música alegre, mas vai indo devagar, entrando na música para valer, dramática. E termina poeticamente.
A senhora começou a trajetória na arte com a música e o balé, mas acabou virando atriz. Foi uma escolha natural, conforme a vida aconteceu, ou pensada? Eu estava certa de que ia ser bailarina clássica, fiz uma grande turnê aos 15 anos com a minha mestra madame Olenewa pelo Brasil todo, foi um negócio fascinante. Mas a Segunda Guerra Mundial interferiu muito na minha formação familiar. Meu pai era alemão e, no Brasil, muitos alemães, italianos e japoneses foram presos nessa época. Meu pai felizmente não foi preso porque meu avô materno era amigo de poderosos e conseguiu tirá-lo da fábrica onde ele estava havia trinta anos trabalhando. Ele perdeu o rumo profissional e percebi que a minha família estava naufragando. Qual era meu objetivo? Ir à luta, ganhar a vida. A viagem era um princípio de carreira, mas assim que terminou, surgiram outros convites. Nem me lembro como, acho que através do meu então namorado e futuro marido (John Herbert), que estudava no Centro de Estudos Cinematográficos junto com o diretor de teatro José Renato Pécora. Logo me convidaram também para fazer televisão. Comecei televisão, cinema e teatro tudo no mesmo ano. Claro que eu não tinha um compromisso profissional fixo, era freelancer, mas consegui começar a ganhar a vida. Foi o que me fez partir para todos esses veículos.
Quando parar de sentir nervoso antes de entrar no palco, é porque alguma coisa morreu dentro de você.
Ainda dá nervoso de entrar no palco a cada dia ou de encarar um novo personagem? Graças a Deus. Quando parar de sentir, é porque alguma coisa morreu dentro de você. É uma entrega muito profunda. Para você conseguir se expressar precisa ser muito verdadeiro, ter muito preparo. É uma religiosidade mesmo.
Qual acredita ter sido o papel mais marcante da sua carreira até agora? Sempre digo que quem faz essa avaliação é o público, se você for entrevistar o grande público ele sabe melhor do que eu. Mas naturalmente eu também sei. O primeiro deles, na televisão, foi a série Alô, Doçura (que Eva protagonizou por dez anos). O Cassiano Gabus Mendes foi o meu grande mestre, ele tinha o tempo de humor. Foi onde me encontrei. Depois teve a primeira versão de Mulheres de Areia, que pegou o Brasil todo e me deu a oportunidade de fazer duas personagens, a heroína e a vilã. Acho fascinantes os vilões, têm muito mais conflitos. Também são os mais engraçados, loucos. Fiz outra vilã marcante em A Indomada.
E no teatro? Nos palcos meu grande mestre foi o José Renato Pécora, mas em seguida veio o Antunes Filho. Fiz quatro trabalhos com ele, incluindo a peça Black-Out, em que fiz uma personagem cega. Para isso, por orientação desse maluco do Antunes Filho, de manhã eu fazia um estágio na Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que atualmente é a Fundação Dorina Nowill para Cegos. Nos quarenta dias desse estágio eu tinha que andar de olhos vendados, dar a volta no quarteirão sozinha, usando a bengala e sem tropeçar na lata de lixo etc. Há um outro espetáculo que foi marcante porque fui assistente de direção, Os Rapazes da Banda, que retratava uma festa de homossexuais. Era 1970 e a censura estava quase impedindo a nossa estreia. O diretor, o belga Maurice Vaneau, tinha um compromisso de dirigir uma ópera na Bélgica e não conseguiu esperar a gente estrear, foi embora. O espetáculo estreou na minha mão, foi uma baita responsabilidade. Mergulhei muito fundo no processo de criação de nove atores. Nunca voltei a dirigir. Mas quem sabe ainda fazemos isso? Acho fascinante.

Ao que a senhora assiste? Eu quero ver tudo, mas não é qualquer porcaria também. Tem muita coisa importante para ver, fico até angustiada de não conseguir ver tudo. Também assisto a TV, sou noveleira. São grandes interpretações, tenho orgulho do trabalho do ator brasileiro, do diretor, de tudo. Não vejo séries americanas, sou meio “analfabyte”. Consigo manobrar e-mail e WhatsApp.
Como é a sua relação com a tecnologia? Se me dá um pouquinho de insônia, o atrativo de ficar no e-mail é perigoso. De repente passou uma hora e você está lá caminhando pelo mundo pela internet. Tem que saber o limite disso. De vez em quando eu pego as redes sociais, mas pego por acaso. YouTube, Facebook, falo: “Entrei, entrei”. Mas como eu entrei, não sei.
O que acha da polarização política que dividiu a internet nos últimos meses? O povo está ficando cada vez mais consciente e a discussão é muito saudável. E a lei dos contrários também. É o que movimenta o mundo.
Sempre foi difícil fazer cultura no Brasil, sempre. Mas essa dificuldade pode ser estimulante.
O que achou do resultado das eleições? Isso aí é outro assunto que eu não estou disposta a abordar. Estou fazendo tudo para acreditar que existe um caminho, e na medida do possível me mantenho informada. Nós temos um grupo, por exemplo, de produtores independentes de teatro, e a gente está encontrando todos os caminhos nas questões culturais atuais.
Ficou mais difícil fazer cultura no Brasil? Sempre foi difícil, sempre. Mas essa dificuldade pode ser estimulante. Um caminho para ser vencido.
Pensa em parar de trabalhar? Eu não, para quê? Não morri.
SERVIÇO:
Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa
Sextas e sábados, às 21 horas, e domingos, às 19 horas
Teatro Porto Seguro – Alameda Barão de Piracicaba, 740, São Paulo
Ingressos: de 35 a 90 reais

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo
Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’
Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’ A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã A morte que vai abalar ‘Renascer’ – e as diferenças para a versão original
A morte que vai abalar ‘Renascer’ – e as diferenças para a versão original Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça
Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça