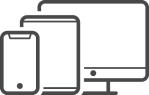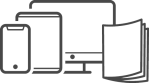O médico que vale ouro
O oncologista — que recebeu uma fortuna para trocar o Sírio-Libanês pela Rede D’Or — fala do salto extraordinário na luta contra o câncer

Nos últimos meses, o médico paranaense Paulo Hoff, de 49 anos, foi o pivô da movimentação mais espetacular na medicina brasileira. Depois de onze anos à frente da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele assumiu o cargo no gigante Rede D’Or, o maior conglomerado de hospitais privados do país, mas até então pouco expressivo na área de câncer. Sob seu comando, até o fim do próximo ano o complexo inaugurará dois hospitais de tratamento exclusivo para a doença, em São Paulo e em Brasília, e transformará a tradicional Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em um centro só de atendimento oncológico. O bochicho sobre a troca de postos foi inflamado pelos valores envolvidos: 1 milhão de reais de salário mensal, além de luvas, que não foram divulgadas. Hoff nega a cifra. “Não preciso de dinheiro a esta altura da carreira, e sim de desafios. E o meu agora é criar o melhor centro de oncologia do Brasil”, reforça ele, em entrevista a VEJA.
O que ainda falta para a cura do câncer? O câncer já tem cura. Seis em cada dez casos são completamente eliminados. Há boas notícias também para os tumores metastáticos, aqueles que atingiram outros órgãos. Nos casos de câncer de testículo com tumor derivado para o cérebro, por exemplo, 90% são curados. Intestino com metástase no fígado, até 60%. A cura de todos os casos ou ao menos o controle de 100% deles serão vistos ainda por nós, pelas gerações atuais.
Por que a oncologia se tornou a área da medicina mais rentável para os hospitais e a mais cara para o doente? O paciente com câncer dá muito retorno financeiro aos hospitais porque tem de se submeter a terapias com medicamentos, exames de imagem, laboratoriais, reabilitação etc. Mesmo depois do fim do tratamento, ele ainda é acompanhado com frequência ao menos por cinco anos. Por outro lado, a inflação oncológica é elevadíssima, a maior em toda a medicina. Isso não está relacionado à modernização nem ao tempo de tratamento, mas a uma história muito particular. Cerca de 50% dos produtos oncológicos do mundo atualmente são consumidos pelos Estados Unidos. E metade deles especificamente pelo Medicare, o seguro de saúde gerido pelo governo para pessoas idosas. Quando há um novo produto para câncer no mundo, portanto, sabe-se de antemão que boa parte das vendas será feita para o governo dos Estados Unidos. No fim do século XX, diante da preocupação de que o Medicare pudesse ditar preços no mercado, o Congresso americano aprovou um artigo que proíbe o sistema de pedir descontos. Ou seja, o governo americano é o maior comprador individual e não pode negociar preços. Imagine o restante do mundo. A medida teve um impacto brutal na escalada crescente de preços de produtos.
Até que ponto a indústria farmacêutica tem influência nos preços? Os fabricantes querem o ressarcimento do que gastaram em remédios, tanto aqueles que deram certo quanto os que fracassaram — e querem ter lucro, é claro. E esse ônus aumentou drasticamente com a avalanche de medicações modernas, que custam uma fortuna em pesquisa. Os altos preços das terapias para câncer me preocupam muito. Veja o exemplo do Car-T, lançado há poucos meses para a leucemia linfoide aguda. O remédio mudou paradigmas ao atacar o câncer de maneira inédita e totalmente individual. Trata-se de um feito extraordinário, mas que custa 475 000 dólares para o paciente. Fico imaginando a angústia de um pai que tem um filho à beira da morte por leucemia, sabe que existe um remédio mas não tem acesso ao medicamento salvador.
O senhor vê uma saída para esse impasse? A solução é fugir um pouco da ideia de que devemos oferecer tudo para todos. Pode parecer contraditório, já que defendo a tese de que os remédios deveriam ser mais acessíveis. O que quero dizer é que temos de dar a quem precisa só o que funciona. Um exemplo prático disso é o que ocorreu recentemente com os medicamentos para câncer de intestino. Há apenas cinco anos, um remédio era usado para todos os portadores da doença. Hoje, sabe-se que há três mutações específicas associadas a esse tipo de tumor que não respondem à medicação. Seis em cada dez pacientes são portadores. E agora a droga é receitada só para um grupo menor de pessoas porque apenas elas se beneficiam. Ou seja, o custo do medicamento não mudou um centavo sequer. Mas agora gastamos 60% menos com ele.
A forma como os estudos científicos são conduzidos hoje, com a participação de imenso contingente de pacientes voluntários, não é incompatível com o uso mais seletivo dos medicamentos? As pesquisas terão de mudar e focar o desenvolvimento de medicações para variações de um mesmo câncer. Esse é um raciocínio que vale para qualquer área na medicina, mas a oncologia certamente está à frente. Recentemente, desenvolveu-se um remédio muito eficaz para câncer de pulmão grave, mas para um tipo de tumor que acomete apenas 1% dos que sofrem de câncer de pulmão. Imagine testar esse remédio. Nos moldes atuais, para selecionar 8 000 pacientes com a mutação associada à ação do remédio, teríamos de reunir 800 000 pessoas. Isso é completamente inviável. Mas com o big data é possível recolher informações sobre um universo imenso e fazê-lo de modo mais rápido e mais preciso. Com o big data, não importa onde o paciente esteja. Basta que seus dados sobre a doença fiquem disponíveis e possam ser minerados por sofisticados programas.
A inteligência artificial já é uma realidade na medicina? O Google investiu milhões de dólares em uma empresa, a Flatiron, que trabalha com big data. O Watson, da IBM, também é uma tentativa de big data de prontuários médicos. A ideia é criar algoritmos de decisões terapêuticas baseados na informação de um número enorme de pacientes. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Mas aí cabe uma questão delicada. Os dados virtuais não podem ser usados para outra finalidade que não a investigação científica. E o termo de consentimento do paciente para essa forma de estudo clínico tem de ser diferente do convencional, pois o controle sobre os dados é muito menor. É um novo mundo que está apenas começando, com todas as dificuldades dos primeiros passos.
No velho mundo, há um imenso fosso entre os hospitais particulares e os públicos. Como a iniciativa privada pode colaborar com as instituições mantidas pelo governo? A maneira mais direta é criar oportunidades de emprego. A oportunidade de trabalhar em um hospital privado facilita a atuação no hospital público. Eu mesmo trabalho todas as manhãs no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, mantido pelo governo estadual. E fiz questão de não deixar o posto mesmo assumindo a oncologia da Rede D’Or, que foi criada no Rio de Janeiro e está agora em sete estados. Posso fazer isso graças à medicina privada. Mas vou dizer uma coisa: o médico gosta de trabalhar no sistema público, e isso não é demagogia. O médico é altruísta. A vasta maioria que escolhe a medicina o faz com genuíno interesse de ajudar o próximo. Conheço muitas pessoas que trabalham no serviço público e poderiam abandoná-lo, mas não o fazem. A relação com o paciente do SUS é genuinamente calorosa.
Neste ano, o senhor foi criticado por ter suspendido um estudo clínico com a fosfoetanolamina, um composto desenvolvido por um químico brasileiro que supostamente teria efeito em diversos tipos de câncer. O estudo era ruim? Essa pesquisa me fez receber críticas de todos os lados. Os que eram contra diziam que não deveríamos nem começar a pesquisa, sob o argumento de que estávamos gastando dinheiro público em uma substância de fundo de quintal. E os que eram a favor diziam que o estudo não estava sendo conduzido como deveria. Nossa decisão de testar a fosfoetanolamina deveu-se ao fato de haver 18 000 pedidos de liminar na Justiça de São Paulo para usá-la. Os juízes estavam autorizando o uso sem nenhuma informação científica. Fizemos um estudo que visava a avaliar o composto como ele estava sendo utilizado pela população. Não para encontrar a melhor dose. Escolhemos dez tipos de tumor para ser testados. Não era a cura que estávamos exigindo, mas apenas resultados razoáveis. Pois, dos 73 pacientes incluídos, apenas um teve benefícios. Era muito pouco para justificar a continuação do estudo. Não era ético continuar.
A fosfoetanolamina não será mais testada? Recentemente, fizemos uma proposta por escrito para o senhor Gilberto Chierice, o criador da substância, sugerindo modificar dentro do razoável as doses e a maneira de ministrar o produto. Mas não obtivemos resposta. A lição maior que tiro disso é que temos de reforçar nas escolas o estudo de ciência. O método científico não precisa ser aprendido só por quem faz medicina. Fiquei muito surpreso com a reação não só dos magistrados, que admitiram o uso da substância, mas de outras pessoas também com alta escolaridade, líderes de opinião, políticos, defendendo o composto. O câncer em si causa celeuma. Talvez, se fosse outro tipo de doença, a repercussão tivesse sido menor.
Estudos mostram que 80% dos oncologistas sofrem de burnout, um distúrbio psíquico precedido de esgotamento físico. Esse índice está muito acima do que se verifica na população em geral. Por quê? Não digo que em outras profissões isso não ocorra, mas a vida do médico é extremamente puxada. O oncologista, em especial, lida com situações de morte todos os dias. E não são mortes repentinas. São mortes anunciadas, que muitas vezes se estendem. Isso não é brincadeira. Os avanços na medicina tornaram essa situação ainda mais dramática para o médico. A morte, até pouco tempo atrás, não era algo distante. Não havia os hospitais. Morria-se em casa, na sala de jantar, com crianças em volta. Hoje, a morte é uma falha. Não conheço nenhum oncologista que vá para casa sem pensar e sofrer com os casos que não deram certo, independentemente do tempo de profissão.
É verdade que o senhor receberá 1 milhão de reais por mês como salário e que o valor das luvas para a troca de instituições também foi milionário? Há celeuma porque talvez seja difícil entender o que me levou a deixar uma das posições mais desejadas da oncologia, no Hospital Sírio-Libanês. E aqui respondo muito francamente: minha vida financeira sempre foi confortável graças à minha profissão. Não foi o dinheiro que me moveu, mas o enorme desafio de participar de um projeto continental. Refiro-me a assumir uma rede com 35 clínicas oncológicas que investirá na construção de dois grandes hospitais privados inteiramente dedicados ao tratamento da doença, os primeiros do país. Recebi carta branca da Rede D’Or para criar o melhor grupo de atendimento em câncer do Brasil. Foi uma oferta impossível de ser recusada. Mas ninguém acertou os valores envolvidos, nem acertará, porque esse é um assunto absolutamente privado.
Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2017, edição nº 2550


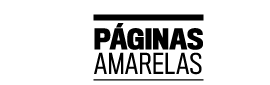


 Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo
Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Mulher de Jeff Bezos quebra protocolo em festa na Casa Branca
Mulher de Jeff Bezos quebra protocolo em festa na Casa Branca Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’
Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’ Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça
Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça Os achados da nova rodada de escavações no sítio arqueológico de Pompeia
Os achados da nova rodada de escavações no sítio arqueológico de Pompeia