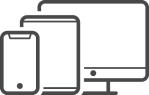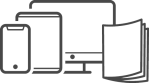Paris hoje não é Paris
O dia seguinte aos seis atentados simultâneos amanheceu sombrio, grave e silencioso — poucos parisienses saíram às ruas para se mostrarem vivos, deixando a cidade vazia, inclusive de atrações, para turistas chineses, russos e americanos

Foi a noite mais longa e mais curta da história recente de Paris. Plugados no Twitter e no Whatsapp, os parisienses – e a denominação vale para todos os que vivem nessa cidade, seja qual for seu passaporte de origem – buscaram notícias de amigos a partir das dez e meia da noite, quando não se sabia muito mais do que o fato de três ataques haviam ocorrido, com 18 mortos. Lucia? Plinio? Richard? Fabio? Isabel? Adriana? Sophie? Virginie? Henry? Dois minutos de demora para uma resposta, um nó na garganta. A maioria estava em casa. Patricia mandou mensagens num francês telegráfico, com erros de quem demonstra que não é minuto de se preocupar com gramática: “Barricada num restaurante no Marais. Mais de 1 quilômetro. A França vive um novo drama nacional. As pessoas correm como lebres.” Numa conversa truncada, ela explica que não podem sair do Carreau du Temple e que Vincent, um amigo, está a 10 minutos a pé dali, no Bataclan. “A última mensagem dizia que era um banho de sangue. E ele não responde mais.” Muito além do fim da tomada de reféns deste que é um dos endereços queridos da cidade para shows, por volta da meia-noite, meia-noite e meia – os ponteiros se arrastavam – continuamos fissurados nas notícias. Cerca de 1500 pessoas assistiam ao show da banda americana Eagles of Death Metal. Paris é uma cidade pequena, com pouco mais de 2 milhões de habitantes. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. De “ataques”, passamos a ouvir “atentado”. Da hashtag #portesouvertes (portas abertas), passamos a #rechercheparis (busca Paris): cada foto num post dava o nome àqueles que não estavam entre os “mais de 100 mortos”. A noite terminou de manhã: não sabemos mais se dormimos livres, mas certo é que já acordamos, pouquíssimas horas depois, em estado de urgência. “Nunca vivi isso aqui”, diz Denis, 48 anos. O último estado de urgência foi decretado em 1961, na época da guerra contra a Argélia. Cartesianos, tentamos encontrar algum sentido naquilo que, enfim, não tem lógica.
A prefeitura de Paris pediu para os cidadãos evitarem sair de casa nesta manhã de sábado. Museus, bibliotecas, escolas, ginásios e piscinas públicas estariam fechados. Manifestações nas ruas – no país das manifestações – estão proibidas até quinta-feira. Pela rádio France Info, ouvimos Patrick Pelloux, médico especialista em urgências e parte da antiga redação de Charlie Hebdo, falar que as equipes nos hospitais da cidade estão prontas para lidar com as feridas “de guerra”. Pouco antes das 11h, o presidente François Hollande se pronunciou pela segunda vez, na saída de um encontro no Conselho de Segurança: “Este é um ato de guerra e a França vai reagir sem piedade.” Entre amigos falamos da Terceira Guerra que se aproxima, mais desiludidos do que ameaçados. Desta vez, a palavra vem do presidente. E o peso é outro. Mas porque hoje é sábado, dia de feira, de parque, de floricultura, sair me pareceu uma questão de sobrevivência. É preciso sair para ver os outros, ver que existem. A pedido do meu marido, evitei o metrô. Evitar o metrô, num certo sentido, é evitar a cidade: perde-se grande parte da liberdade de ir e vir. “Le métro, c’est Paris”, diz o slogan da concessionária RATP: 113 anos de história, 14 linhas (a décima-quinta está a caminho), 303 estações (nenhum endereço de Paris fica a mais de 500 metros de distância de uma), 205 quilômetros de rede. A pé, saí do parque Buttes Chaumont, no nordeste da cidade, em direção ao museu do Louvre, passando pela subprefeitura do 11o distrito de Paris, numa diagonal em direção ao coração da cidade. O parque do século XIX é onde os parisienses correm, andam de pônei, pescam, fazem piquenique na grama, treinam de tai-chi a artes marciais – ou, no caso dos irmãos Kouachi, responsáveis pelo atentado do Charlie Hebdo, recrutam jihadistas para enviar ao Oriente Médio e se juntar a algum grupo radical islâmico.
Entre Belleville e Ménilmontant, cruzei inúmeras crianças de patinete, muçulmanas de corpo coberto saindo de boulangeries com baguetes, senegalesas com buquês tão coloridos quanto os boubous tradicionais que vestem. As lojas estavam abertas e a vida me pareceu seguir no mesmo espírito. Um aviso na porta fechada numa ressourcerie – uma loja solidária, que funciona com doações – me fez lembrar que este sábado não era um outro qualquer: “Caros, por causa dos acontecimentos desta noite, permaneceremos fechados hoje.” A cena mudou de figura na avenue Parmentier, trinta minutos depois. A loja de bonecas antigas, de roupas de segunda mão, as livrarias – tudo era uma sucessão de portas de ferro abaixadas. Na mesma avenida, no correio quase colado à lateral da subprefeitura do bairro do Bataclan, outro cartaz: “Em razão dos atentados ontem na vizinhança, não temos condições de abrir a agência nesta manhã. Por razões de segurança, reabriremos na segunda.” A subprefeitura fez o contrário: decidiu manter as portas abertas para estender um atendimento psicológico aos sobreviventes, testemunhas ou familiares de desaparecidos dos atentados. Cento e sessenta e sete pessoas haviam sido atendidas na madrugada. Sobre uma mesa, ao lado da porta principal, uma caneta Bic e um caderno quadriculado registravam mensagens de “sideração”, “estupefação”, “choque” – as palavras que mais escutei em muito menos de 24 horas. Por coincidência, cheguei à praça Léon Blum pouco antes do subprefeito, que não tinha tido noite: ele havia ficado aqui até às 6h da manhã. François Vauglin vinha direto da coletiva de imprensa de Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, que resumiu assim seu discurso: “Este foi um ataque ao nosso modo de vida. Seremos mais fortes. Eles não vão nos silenciar.” Pergunto a Vauglin por que o bairro foi alvo dos atentados. Em janeiro, há onze meses, ainda se tentava encontrar respostas, todas descabidas: o “desrespeito ao Alcorão” do Charlie Hebdo e “os judeus” dos dois mercados nos arredores da cidade. Agora, ninguém se arrisca. Ou melhor: sabemos que qualquer um pode ser a próxima vítima, que não é preciso razão – a não ser o fato de tomarmos taças de vinho com os amigos nos terraços dos cafés, irmos a shows, gostarmos de futebol. “Nosso bairro é feito de jovens, a força viva deste país. É também onde vivemos o caldeirão cultural de forma plena, algo que desafia os integristas”, responde um Vauglin abatido, em voz baixa. Dois números de telefone são as linhas diretas para se ter notícias dos desaparecidos: 3015 e um 0800. E quantos somam eles, pergunta uma jornalista da rádio Europe1? “Não sei.” Vauglin encerra a conversa e entra no prédio. Ele soube da notícia por meio de um dos vereadores da região, vizinho do Bataclan. Ligou para o delegado para saber mais. Ele não fez nada de diferente de nenhum de nós. Somos todos iguais hoje em Paris.
Dali, sigo pelo Boulevard Voltaire, a outra rua lateral da subprefeitura. Vou em direção ao Bataclan. No caminho, um senhor de mais de 80 anos – terno, lenço no pescoço – me pergunta se há tabacs, as lojas onde se vende cigarros, jogos de loteria e cafés duvidosos, abertos no caminho pelo qual passei. Ele diz que não consegue sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Pergunto se ele mora no bairro. Ele diz que morou na época da II Guerra e viu jovens, “como os de ontem”, serem mortos ali – apontando para a esquina a 50 metros, com a rue Chemin Vert. Quero saber como ele se sente neste sábado. “O homem é um projeto que deu errado”, diz Yahnn Lequere. “Inventamos guerras e matamos de forma gratuita como quem atira em pombos, ou menosprezam as mulheres. O problema é o sexo masculino”, me repete várias vezes. Lequere não vê sentido para a vida, embora mantenha um sorriso tão largo como as costeletas descabeladas que emolduram o rosto enrugado, e me pergunta que sentido eu vejo nas coisas. Respondo que é encontrar pessoas como ele. Paris fez isso ontem, abrindo as portas de casa para estranhos. É o que nos mantém vivos e humanos, ele emenda. Sigo caminhando e entreouvindo a conversa de grupos reunidos na calçada: “Será que vão mandar nossos homens para a Síria?”; “Não gostam quando confundem muçulmanos com Estado Islâmico; “Só há uma diferença entre todos nós hoje: os mortos e os vivos”.
Na altura do número 100, já avisto os furgões das TVs – e os repórteres russos, americanos, ingleses que gravam passagens em voz tão baixa que se tornam quase inaudíveis. O Bataclan fica no número 50 e, dessa barreira, reforçada por poucos policiais, não se vê nada. Uma moça se aproxima dos policiais e mostra um documento: ela mora na rua e quer passar. Seu queixo treme involuntariamente, como se o frio fosse siberiano. Faz 11 graus e o vento é gelado, mas ela está bem agasalhada. De bicicleta, outra vizinha atravessa a barreira no sentido contrário, rumo ao Boulevard Richard Lenoir: ela chora de soluçar. Caminho pela rua paralela. Um parque separa uma centena de pessoas que anda, fotografa ou só observa a fachada chinesa do século XIX. Os policias pedem “por favor, senhoras e senhores, caminhem.” Só então eu me dou conta do silêncio ao meu redor. Ouvimos carros, mas não pessoas. Não há esse silêncio em Paris: alguém vai buzinar, alguém vai ouvir a música mais alto do que deveria, um bando de adolescentes vai rir às gargalhadas. Mas não. A cidade está muda.
A partir desse ponto, a caminhada muda. Pego o metrô na estação Filles de Calvaire, em direção ao Opéra Garnier. A linha 8 passa pela Bastille, République, Concorde e Invalides, alguns dos pontos mais visitados da cidade. Os vagões estão vazios. Na frente do Opéra, a escadaria que serve de plateia para os músicos de rua está vazia. Apenas um grupo de chineses, de colete verde, posa para fotos, rindo e falando alto. Viajar para Paris é, afinal, o sonho da liberdade. No topo do prédio, a bandeira da França está a meio mastro: “No visits today, pas de visite aujourd’hui”, diz o cartaz na bilheteria de uma das salas emblemáticas da alta cultura europeia (“não há visitação hoje”). As lojas de departamento Printemps e Galeries Lafayette estão fechadas. As vitrines de Natal seguem animadas e com o jingle-bells nos alto falantes. Andar na Paris que não é Paris é uma experiência surreal. É possível parar na faixa e fotografar a perspectiva vazia deste que é um boulevard capaz de tirar do sério qualquer motorista. Decido andar pela Rue de la Paix, rua da Paz, a caminho do Louvre. As joalherias estão fechadas. A Cartier parece de luto, com todas as vitrines cobertas por grandes portas negras. Na rue Saint Honoré, as lojas estão fechadas. Símbolo da modernidade parisiense, a Colette, sempre lotada, está aberta. A roda-gigante instalada para o fim do ano na place de la Concorde está parada. O Jardim das Tulherias está fechado. Turistas russas tiram foto através das grades. Nesse momento, começo a pensar que se o Louvre estiver aberto, haverá uma espécie de conforto: é uma resistência do nosso modo de viver. Nos cinemas, hoje fechados, acaba de estrear Francofonia, drama de Alexander Sokurov sobre o Louvre durante a ocupação nazista. O filme é uma reflexão sobre o papel do Louvre, de Paris e da arte como parte do espírito da civilização. Quando vejo o vizinho Arts Décoratifs fechado, perco as esperanças: eles fazem parte da mesma administração. Na entrada do Carroussel do Louvre, o segurança confirma, em silêncio. Só com um gesto de mãos: elas se cruzam, como num x. De frente para a pirâmide, não há filas. Turistas tiram fotos nas poses de sempre: sobem nos apoios de pedra para “pegar” a pirâmide diminuta, num efeito de perspectiva, pelos dedos. Hoje, a pirâmide me parece encolhida. Mas Vincent conseguiu escapar do Bataclan. Amanhã é outro dia.
https://www.youtube.com/watch?v=u2DDbMMKzFU


 Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer
Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos
O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe
Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ
Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ